E como a Globo definiu a narrativa dominante e única da crise do mensalão. A central de Brasília, dizem jornalistas que trabalharam no sistema Globo, formou uma espécie de “gabinete de crise" com líderes da oposição do qual faziam parte ACM Neto e Paes de Andrade. Fechar a Radiobrás foi o ato síntese de todos os grandes erros na política da comunicação do governo Lula. A análise é de Bernardo Kucinski e publicada pela Agência Carta Maior, 25-06-2008.
Eis o artigo.
A mídia na era Lula deixou de funcionar como mediadora da política, passando a atuar diretamente como um partido político de oposição. Apesar de disputarem agressivamente o mercado entre si, há mais unidade programática hoje entre os veículos da mídia oligárquica do que no interior de qualquer partido político brasileiro, até mesmo partidos ideológicos como o PT e o PSOL. Todos os grandes veículos, sem exceção, apóiam as privatizações, a contenção dos gastos públicos, a redução de impostos; a obtenção de um maior superávit primário, a adesão do Brasil à ALCA; todos são críticos à criação de um fundo soberano, ao controle na entrada de capitais, ao Bolsa Família, à política de cotas nas universidades para negros, índios e alunos oriundos da escola pública, à entrada de Venezuela no Mercosul e ao próprio Mercosul. Todos criticam o governo sistematicamente, em todas as frentes da administração, faça o governo o que fizer ou deixar de fazer.
Na campanha da grande imprensa que levou Vargas ao suicídio, o governo ainda contava como apoio da poderosa cadeia nacional de jornais Última Hora. Hoje, não há exceção entre os grandes jornais. Outra diferença desta vez é a adesão ampla de jornalistas à postura de oposição, e sua disseminação por todos os gêneros jornalísticos tornando-se uma sub-cultura profissional. Emulada por editores, prestigiada por jornalistas bem sucedidos e comandada pelos intelectuais orgânicos das redações, os colunistas, essa sub-cultura é dotada de um modo narrativo e jargão próprios.
Em contraste com o jornalismo clássico, que trabalha com assertivas verazes para esclarecer fatos concretos, sua narrativa não tem o objetivo de esclarecer e sim o de convencer o leitor de determinada acusação, usando como fio condutores seqüências de ilações. É ao mesmo tempo grosseira na omissão inescrupulosa de fatos que poderiam criar outras narrativas , e sofisticada na forma maliciosa como manipula falas, datas e números. O enunciador dessa narrativa conhece os bastidores do poder e não precisar provar suas assertivas. VEJA acusou o PT de receber dinheiro de Cuba, admitindo na própria narrativa não ter provas de que isso tenha acontecido. Em outra ocasião, justificou a acusação alegando não haver nenhuma prova de que aquilo não havia acontecido.
Trata-se de uma sub-cultura agressiva. Chegam a atacar colegas jornalistas que a ela se recusaram a aderir , criando nas redações um ambiente adverso a nuances de interpretação ou divergências de análise. O meta-sentido construído por essa narrativa é o de que o governo Lula é o mais corrupto da história do Brasil, é incompetente, trapalhão, só tem alto índice de aprovação porque o povo é ignorante ou se deixa levar pelo bolso, não pela cabeça.
Levantam como principal bandeira o repúdio à corrupção. Mas como quase todo o moralismo em política, trata-se de mais uma modalidade de falso moralismo: é o “moralismo dirigido” que denuncia os “ mensaleiros do PT” e deixa pra lá o valerioduto dos tucanos, onde tudo de fato começou, e mais recentemente o escândalo do Detran de Yeda Crusius, no Rio Grande do Sul onde tudo continua. É “ moralismo instrumental”, que visa menos o restabelecimento da ética e mais a destruição do PT e do petismo.
O que poucos sabem é que essa sub-cultura se tornou dominante graças a uma mãozinha da Globo. Quando foi revelada em fevereiro de 2004 a propina recebida dois anos antes por Waldomiro Diniz, sub-chefe da assessoria parlamentar da Casa Civil do governo Lula, a Globo vislumbrou a oportunidade de uma ofensiva de caráter estratégico: cortar o barato do petismo e de sua ameaça de governar o Brasil por 40 anos. Com esse objetivo, mudou o modus operandi do seu jornalismo político. Logo depois das denúncias de Roberto Jefferson, criou uma central de operações, em Brasília, unificando as coberturas de política da TV, CBN e jornal O Globo sob o comando de Ali Kamel, que para isso se deslocou para Brasília.
Em quase todas as campanhas eleitorais os grandes jornais criam uma instância adicional de decisão sob o comando de alguem de confiança da casa, que passa a centralizar toda a cobertura política. A central coordenada por Ali Kamel em Brasília reflete essa passagem de um jornalismo normal para um jornalismo de campanha, apesar de não estar em curso uma campanha eleitoral.
A central de Brasília, dizem jornalistas que trabalharam no sistema Globo, formou uma espécie de “gabinete de crise" com líderes da oposição do qual faziam parte ACM Neto e Paes de Andrade, pautando-os e por eles se pautando. Vários jornalistas faziam parte da operação, cada um encarregado de uma “fonte” da oposição. Tinham a ordem de repercutir junto àquela fonte, todos os dias, falas e acusações, matérias do dia anterior, entrevistando sempre os mesmos protagonistas: Heloísa Helena, ACM Neto, Gabeira , Onix Lorenzoni. No dia seguinte, os jornais davam essas falas em manchete, como se fosse fatos. Assim surgiu todo um processo de construção de um relato da crise destinado a se tornar a narrativa dominante e única.
A VEJA lançara sua própria operação de objetivos estratégicos muito antes. Entre 2003 e 2006, VEJA produziu 50 capas contra Lula , sendo 18 delas consecutivas.
Quando surgiu a fita de Waldomiro Diniz, a revista revelou esse objetivo em ato falho : “Os ares em torno do Palácio tinham na semana passada sabor de fim de governo.”
Na Globo, a operação encontrou resistências internas de jornalistas que ainda lambiam as feridas provocadas pelo falseamento do debate Collor-Lula, e da cobertura da campanha das Diretas Já. Deu-se então a marginalização de Franklin Martins da cobertura política. Esse afastamento teve grande importância porque institui no corpo de jornalistas a sensação de insegurança e o medo, necessários para a imposição da nova ordem. Sua saída foi um baque”, avaliou Luiz Nassif em entrevista a Forum.
Com o vazamento de informações sobre o clima interno de intolerância, em especial uma reportagem de Raimundo Pereira em Carta Capital, e matérias críticas em blogs e no site Carta Maior, a cúpula jornalística da empresa mandou circular um manifesto cobrando lealdade à casa. Três jornalistas que se recusam a assinar foram expurgados.
Da Globo o expurgo respingou a outros veículos da grande imprensa. O último capítulo desse processo foi a não renovação do mandato do Ombudsman da Folha, Mário Magalhães por criticar na internet a forma como a Folha reportou o vazamento dos gastos do governo FHC com cartões corporativos. Apontou falta de transparência por não indicarem as fontes da acusação de que Dilma Roussef foi a mandante, e a falha de não ouvir os causados. No caminho também perdeu seu espaço Paulo Henrique Amorim. Mino Carta, em solidariedade, desligou-se do IG.
Na campanha contra Getúlio a sobre-determinante era a guerra-fria, que desqualificava o nacionalismo e as demandas sindicais como meros instrumentos do comunismo. Hoje a sobre-determinante é o neoliberalismo que desqualifica opções de política econômica em nome de uma verdade única à qual é atribuído o monopólio da eficácia. A unanimidade anti-Lula da grande mídia só tem paralelo na unanimidade pró-neoliberal dessa mesma mídia.
Mas temos um paradoxo. O governo Lula tem mantido religiosamente seu acordo estratégico com o capital financeiro, que é o setor dominante hoje no capitalismo mundial e brasileiro. E apesar do vasto leque de políticas públicas de apoio aos pobres, não brigou com nenhum dos outros grupos de interesses do grande capital. Por que então tanta hostilidade da mídia? É como se a grande mídia agisse por conta própria, pouco ligando para a dupla capital financeiro-capital agrário e na qual se apóia.
É uma mídia governista, ou ”áulica”, na adjetivação de Nelson Werneck Sodré, quando o governo faz o jogo da dependência, como foram os governos de Dutra, Café Filho, Jânio Quadros e Fernando Henrique. E anti-governista, quando os governos são portadores de projetos de autonomia nacional, como foram os governos de Getúlio, Juscelino, que rompeu com o FMI, Jango e agora o de Lula.
Uma mídia que já nasceu neoliberal, muito antes do neoliberalismo se impor como ideologia dominante e organizativa das políticas públicas. Nunca aceitaram o Estado que chamam pejorativamente de “populista”. Em artigo recente na Folha, Bresser Pereira associou diretamente o discurso da mídia contra o populismo e sua inclinação pelo golpe à nossa extrema pobreza e polarização de renda. “Como a apropriação do excedente econômico não se realiza principalmente por meio do mercado mas do Estado, a probabilidade de que facções das elites recorram ao golpe de Estado quando se sentem ameaçadas é sempre grande.” Diz ainda que nossas elites “estão quase sempre associadas às potências externas e às suas elites.” Daí, diz ele ”O que vemos na imprensa, além de ameaças de golpe é o julgamento negativo dos seus governantes...”
A incompatibilidade entre governos populares portadores de projetos nacionais e a mídia oligárquica é de tal ordem que muitos desses governantes tiveram que jogar o mesmo jogo do autoritarismo, para dela se proteger. Getulio criou a Hora do Brasil como programa informativo de rádio para defender a revolução tenentista contra a oligarquia ainda em 1934, quando o regime era democrático, fundado na Constituição de 34. No Estado Novo foi ao extremo de instituir a censura previa através criando o Departamento de Imprensa e Propaganda. (DIP). No em seu retorno democrático, estimulou Samuel Wainer a criar sua cadeia Última Hora.
Estas reflexões, se tem algum fundamento, mostram como foi equivocada a política de comunicação do governo Lula, a começar por não atribuir à comunicação e às relações com a mídia o mesmo peso estratégico que atribuiu às suas relações com a banca internacional. Nem sequer havia um comando único para a comunicação, que sofreu um processo de feudalização. Só na presidência, três feudos disputavam espaço: a Secom, o Gabinete do Porta-Voz e Assessoria de Imprensa. Fora dela, dois ministérios definiam políticas públicas na esfera da comunicação: Ministério das Comunicações e Ministério da Cultura.
Propostas longamente discutidas ainda no âmbito dos grupos de jornalistas do PT, e pelos funcionários da Radiobrás, não foram sequer discutidas. Nesse vazio, o único grande aparelho de comunicação social do governo, o sistema Radiobrás acabou embarcando numa política editorial chamada de “comunicação cidadã”, que tinha como preocupação fundamental e explícita de dissociar-se do governo do dia. O que é pior: despojava a Radiobrás de sua atribuição formal de sistema estatal de comunicação. Isso num momento histórico que exigia, ao contrário, reforçar o sistema estatal de comunicação.
Pouco experiente em jornalismo político, a equipe não conseguiu resolver de forma criativa a contradição entre fazer um jornalismo veraz de qualidade e politicamente relevante, e ser ao mesmo tempo um serviço estatal de comunicação. Com definições opacas, que nada acrescentavam ao que se entende por jornalismo, acabaram desenvolvendo um jornalismo de tipo alternativo, parecido ao que fazem as ongs e movimentos sociais.
A importante mudança do papel da Radiobras nunca foi discutida no Conselho da Radiobrás. O corpo da Radiobrás chegou a se entusiasmar com a idéia sempre simpática a jornalistas, mas simplória, de deixar de ser “chapa-branca”, mas acabou não havendo muita harmonia entre a nova direção e as bases. Uma apregoada “gestão participativa”, ficou mais no papel do que na prática.
Em minucioso relatório sobre as conquistas da Radiobrás perto do final do primeiro mandato, o presidente do Conselho enumerou os muitos avanços técnicos, mas apontou que a Radiobrás havia criado uma outra missão e outro papel para si, sem discutir essas mudanças previamente com o próprio governo. Também apontou ser falso o debate que contrapõe comunicação de caráter oficial com o direito do cidadão á boa informação.
Mais equivocada ainda foi a proposta de acabar com a obrigatoriedade da Voz do Brasil, formulada pela direção da Radiobrás logo no primeiro ano do mandato de Lula, a partir dos conceitos neoliberais de que o Estado não faz parte da esfera pública e a liberdade de imprensa do baronato da mídia é a própria liberdade de imprensa. A Radiobrás chegou a co-patrocinar no anexo II da Câmara dos Deputados, junto com os Mesquitas um seminário para apoiar a flexibilização da Voz do Brasil.
Essa mesma visão ingênua levou a Radiobrás a adotar como sua e como se fosse a única possível, a narrativa da grande imprensa na grande crise do mensalão, que como vimos foi em grande parte articulada entre o sistema Globo e a oposição. Embora só hoje se saibam alguns detalhes dessa operação, as forçadas de barra no noticiário e nas manchetes eram discerníveis a qualquer jornalista experiente.
Naquele momento, a Radiobrás era o único sistema de comunicação social capaz de criar uma narrativa realmente independente da crise, que sem ser chapa branca também não fosse submissa à articulação comandada pela Globo. Mas quando veio a crise, seu projeto editorial entrou em parafuso. Mais do que isso: a crise traumatizou a direção da empresa que viu ruir a bandeira ética do PT, sob a qual muitos deles cresceram, formaram-se e criaram sua identidade pública. Só um estado catatônico poderia explicar o fato da Radiobrás dar ao vivo e na íntegra o depoimento de Roberto Jefferson de junho de 2005 como se quisesse se colocar à frente do sistema Globo. No momento crucial da crise cortou um discurso de Lula em Luziania, o que nem a Globo fez.
Foi a fase em que manchetes da Agência Brasil rivalizavam com as da grande imprensa na espetacularização da crise e na disseminação de noticias infundadas. Entre essas manchetes está a acusação nunca comprovada do dia de renuncia de Zé Dirceu (16/06/05) : “Ex-agente do SNI diz que Casa Civil está envolvida nas provas dos correios”. E a noticia falsa de que “Miro Teixeira confirmou as acusações de Jeffersson”, dada no mesmo dia 21/06;05 em que até a grande imprensa admitia que Miro Teixeira não havia confirmado essas acusações. Mesmo sem atentar para a dimensão política desse tipo de noticiário, sua fragilidade era incompatível com o padrão que se espera de uma comunicação de Estado.
Outras manchetes meramente reproduziam falas de líderes da oposição: ”Nada poderá restringir nosso trabalho na CPI”, diz líder do PFL (17/056/05) ou “PFL e PSDB alegam que PT violou legislação (22/06/05). A Radiobrás, sem perceber, havia entrado no esquema orquestrado por Ali Kamel. Naquele momento nascia o processo de colonização da comunicação de governo e do Estado pelo ideário liberal-conservador , que acabou levando ao fechamento intempestivo da própria Radiobrás.
Fechar a Radiobrás foi o ato síntese de todos os grandes erros na política da comunicação do governo Lula. Ademais, ao fechar a Radiobrás o governo violou a Constituição que manda coexistirem os três sistemas; púbico, privado e estatal E não é à toa que a Constituinte cidadã assim decidiu. Como sabemos, diversas vezes a grande mídia latino-americana apoiou golpes de Estado, algo inimaginável nas democracias dos países centrais. Ter um sistema estatal de comunicação minimamente funcional , com credibilidade e legitimidade junto à população é uma espécie de apólice de seguro contra golpes de Estado.

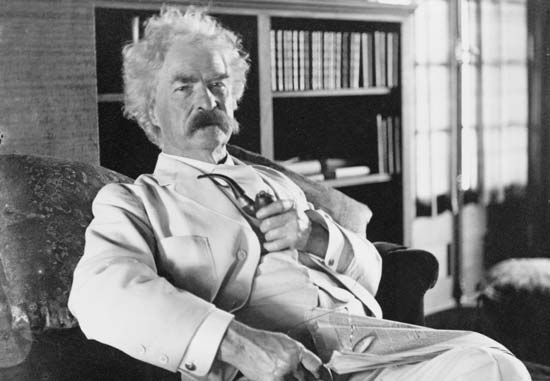 William McKinley, candidato republicano às eleições presidenciais de 1900, baseou grande parte de sua plataforma na idéia da responsabilidade dos Estados Unidos pelos territórios então tomados à Espanha. Alegando a necessidade da defesa desses novos territórios, McKinley alertava para a urgência de se acabar com as insurreições armadas nesses locais e, assim, conferir as "bênçãos" da civilização aos povos libertados.
William McKinley, candidato republicano às eleições presidenciais de 1900, baseou grande parte de sua plataforma na idéia da responsabilidade dos Estados Unidos pelos territórios então tomados à Espanha. Alegando a necessidade da defesa desses novos territórios, McKinley alertava para a urgência de se acabar com as insurreições armadas nesses locais e, assim, conferir as "bênçãos" da civilização aos povos libertados.