A hipermassificação e a destruição do indivíduo
O “tempo livre” é de fato assim tão livre? Esse tempo, saturado de produtos culturais, impede que cada qual se diferencie por escolhas próprias, espoliando sua energia vital. E, levando a uma perda generalizada de individuação, engendra rebanhos de seres em permanente e angustiante mal-estar – rebanhos que se aproximam cada vez mais da horda furiosa
Bernard Stiegler
Uma fábula dominou as últimas décadas e iludiu em boa parte os pensamentos políticos e as filosofias, afirmando, desde 1968, que tínhamos enfim alcançado a era do “tempo livre”, da “permissividade” e da “flexibilidade” das estruturas sociais, a sociedade do lazer e do individualismo. Esse conto de fadas, teorizado sob a denominação de “sociedade pós-industrial”, influenciou e fragilizou notadamente a filosofia “pós-moderna”. Inspirou os social-democratas, querendo fazer crer que tínhamos passado da época das massas laboriosas e consumidoras típicas da era industrial para o tempo das classes médias. O proletariado, segundo tal fabulação, estaria em vias de desaparecimento.
Esse último, porém, não apenas continua a ser numericamente significativo como ainda cresceu, com a larga proletarização dos empregados, assujeitados a um dispositivo maquínico que os priva de iniciativa e de saberes profissionais. Quanto às classes médias, estas se pauperizaram. Falar de crescimento e impulso do lazer – no sentido de um tempo liberado de qualquer coerção, o tempo da “disponibilidade absoluta”, como diz o dicionário – não é nada evidente, pois o lazer não tem mais por função liberar o tempo individual, mas melhor controlá-lo no intuito de supermassificá-lo: tornou-se o instrumento de uma nova servidão voluntária. Produzido e organizado pelas indústrias culturais e do entretenimento, o lazer forma o que Gilles Deleuze [1] chamou de as sociedades de controle. Estas desenvolvem um capitalismo cultural e de serviços que fabrica modos e estilos de vida, transforma a vida cotidiana segundo seus interesses imediatos, padroniza as existências pelo viés dos “conceitos de marketing”. Como este, por exemplo, do life-time value, que designa o valor economicamente calculável do tempo de vida de um indivíduo, cujo valor intrínseco é dessingularizado e desindividualizado.
O marketing, como o entendeu Deleuze, transformou-se no “instrumento do controle social” [2]. A sociedade pretensamente “pós-industrial” tornou-se, ao contrário, hiperindustrial [3]. Longe de se caracterizar pelo domínio do individualismo, a época mais se aproxima de um devir gregário dos comportamentos e de uma perda generalizada de individuação.
O conceito de perda de individuação introduzido por Gilbert Simondon [4] expressava aquilo que adveio ao operário submetido à máquina-ferramenta no século 19: este perdeu seus saberes técnicos e, com isso, sua individualidade, reduzido à condição de proletário. Agora, é o consumidor que é padronizado em seu comportamento pela formatação e fabricação artificial de seus desejos. Perdeu, também ele, seu “saber viver”, substituído pelas normas editadas pelas marcas.
“Racionalmente” promovidas pelo marketing, as marcas assemelham-se às “bíblias” que regem o funcionamento das franquias de fast-food, às quais os concessionários devem conformar-se ao pé da letra, sob pena de ruptura de contrato, ou mesmo de processo. Essa privação de individuação, e portanto de existência, é extremamente perigosa: Richard Durn, o assassino de oito integrantes do conselho municipal de Nanterre, escreveu em seu diário que precisou “fazer o mal para, ao menos uma vez em [sua] vida, experimentar o sentimento de existir” [5].
Freud escreveu, em 1930, que, mesmo dotado pelas tecnologias industriais dos atributos do divino, e “por mais que se assemelhe a um deus, o homem hoje não se sente feliz” [6]. É exatamente o que a sociedade hiperindustrial faz dos seres humanos: privando-os de individualidade, ela engendra rebanhos de seres em permanente e angustiante mal-estar; seres aos quais falta um vir-a-ser, seres sem porvir. Esses rebanhos desumanos terão cada vez mais tendência a se tornarem hordas em fúria. Freud, em A psicologia das massas e análise do eu, esboçava, já em 1920, a análise dessas multidões tentadas a regredir ao estágio da horda, habitadas pela pulsão de morte descoberta em Além do princípio do prazer e que O mal-estar na civilização retomou dez anos depois, quando o anti-semitismo, o totalitarismo e o nazismo se alastravam pela Europa.
Ainda que tenha se referido à fotografia, ao gramofone e ao telefone, Freud não evocou o rádio nem – ainda mais estranho – o cinema, utilizado por Mussolini, Hitler e Stálin, esse cinema acerca do qual um senador americano dizia, já em 1912, que “trade follows films” (o mercado acompanha os filmes) [7]. Tampouco imaginou a televisão, cuja emissão pública os nazistas ensaiaram em abril de 1935. No mesmo momento, Walter Benjamin [8] analisava aquilo que denominou o “narcisismo da massa”: o controle dessas mídias pelos poderes totalitários. Mas ele não pareceu aquilatar melhor que Freud a dimensão funcional – em todos os países, incluídos os democráticos – das indústrias culturais nascentes.
Edward Bernays, ao contrário, duplo sobrinho de Freud, teorizou-as. Explorou as imensas possibilidades de controle daquilo que seu tio chamara de “economia libidinal”. E desenvolveu as “relações públicas”, técnicas de persuasão inspiradas pelas teorias do inconsciente, que pôs a serviço do fabricante de cigarros Philip Morris por volta de 1930 – no momento em que Freud percebia, na Europa, a ascensão da pulsão de morte contra a civilização.
Freud não se interessava pelo que se passava então nos Estados Unidos. Salvo por uma estranha observação. Ele se diz, primeiro, obrigado a “vislumbrar também o perigo suscitado por um estado particular que se pode chamar de ‘a miséria psicológica de massa’, e que é criada principalmente pela identificação dos membros de uma sociedade uns com os outros, enquanto certas personalidades com temperamento de chefe não conseguem [...] desempenhar esse importante papel que deve lhes caber na formação de uma massa”. E afirma, em seguida: “O estado atual da América forneceria uma boa ocasião para estudar esse temível prejuízo levado à civilização. Resisto à tentação de lançar-me na crítica à civilização americana, não desejando dar a impressão de querer, eu mesmo, usar métodos americanos” [9].
Foi preciso esperar que Theodor Adorno e Max Horkheimer [10] denunciassem o “modo de vida americano” para que a função das indústrias culturais fosse verdadeiramente analisada, além da crítica dos meios de comunicação surgida desde os anos 1910 com Karl Kraus [11].
Embora suas análises permaneçam insuficientes [12], esses autores compreenderam que as indústrias culturais formam um sistema conjunto com as indústrias em geral – sistema cuja função consiste em fabricar os comportamentos de consumo, massificando os modos de vida. Trata-se de garantir o escoamento dos produtos sempre novos engendrados pela atividade econômica, cuja necessidade não é espontaneamente sentida pelos consumidores. Essa reticência dos consumidores provoca um risco endêmico de superprodução, e portanto de crise econômica, que só é possível combater – a não ser que haja um questionamento geral do sistema – com o avanço daquilo que constituía, aos olhos de Adorno e de Horkheimer, a própria barbárie.
Depois da Segunda Guerra mundial, a frente da teoria das relações públicas foi ocupada pela “pesquisa motivacional”, destinada a promover a absorção do excedente de produção quando do retorno à paz – avaliado em 40%. Uma agência de publicidade assim escrevia em 1955: o que faz a grandeza da América do Norte “é a criação de necessidades e de desejos, a criação do desgosto por tudo que é antigo e ultrapassado”. Promover o gosto supõe de fato provocar o desgosto, o que termina por afetar o próprio gosto. Apelava-se ao “subconsciente” para ultrapassar as dificuldades encontradas pelos industriais quando se tratava de levar os americanos a comprarem o que suas fábricas podiam produzir [13].
Na França, desde o século 19, vários órgãos se empenhavam em facilitar a adoção dos produtos industriais, que transformavam por completo os modos de vida, lutando contra as resistências suscitadas por tais transformações: assim se deu a criação do “reclame” por Emile de Girardin. Mas foi preciso esperar o surgimento das indústrias culturais (do cinema e do disco) e principalmente dos programas e emissões (do rádio e da televisão) para que se desenvolvessem os objetos temporais industriais. Estes permitem um controle íntimo dos comportamentos individuais, transformando-os em comportamentos de massa – embora o espectador, isolado diante de seu aparelho de TV, conserve a ilusão de um lazer solitário.
É também o caso da atividade dita “de tempo livre”, que, na era hiperindustrial, estende a todas as ações humanas o comportamento mimético e compulsivo do consumidor: tudo deve tornar-se consumível, desde o sabão em pó e o chiclete até a saúde, a educação e a cultura. Mas a ilusão que é preciso oferecer para chegar a isso só pode provocar frustrações, descréditos e instintos de destruição. Sozinho diante de meu televisor, posso sempre pensar que me comporto individualmente; mas a realidade é que eu faço como fazem milhões de telespectadores que assistem ao mesmo programa no mesmo instante.
As atividades industriais, tornadas planetárias, pretendem realizar gigantescas economias de escala e, por meio de tecnologias apropriadas, controlar e homogeneizar os comportamentos: as indústrias de programas ocupam-se disso, por meio dos objetos temporais que compram e difundem a fim de captar o tempo das consciências que formam suas audiências, e que elas vendem aos anunciantes.
Um objeto temporal – melodia, filme ou emissão de rádio ou televisão – é constituído pelo tempo de seu desenrolar, aquilo que Edmund Husserl [14] nomeou como “fluxo”. É um objeto que passa. Como as consciências que ele unifica, esse objeto é constituído pelo fato de desaparecer à medida que aparece. Com o nascimento da rádio civil (1920) e mais tarde dos primeiros programas de televisão (1947), as indústrias de programas passaram a produzir objetos temporais que coincidem no tempo de seu desenrolar com o desenrolar do tempo das consciências das quais são objetos. Tal coincidência permite à consciência adotar o tempo desses objetos temporais. As indústrias culturais contemporâneas podem, assim, fazer as massas de espectadores adotar o tempo do consumo do dentifrício, do refrigerante, do automóvel. É quase exclusivamente desse modo que a indústria cultural se financia.
Ora, uma consciência é essencialmente uma consciência de si: uma singularidade. Só posso dizer “eu” porque dou a mim mesmo meu próprio tempo. Enormes dispositivos de sincronização, as indústrias culturais, em particular a televisão, são máquinas de liquidar esse “si mesmo”. Quando dezenas ou centenas de milhões de telespectadores assistem simultaneamente ao mesmo programa ao vivo, essas consciências do mundo inteiro interiorizam os mesmos objetos temporais. E se, todos os dias, elas repetem, na mesma hora e regularmente, o mesmo comportamento de consumo audiovisual, porque tudo as leva a isso, tais “consciências” terminam por tornar-se a consciência da mesma pessoa – isto é, de ninguém. A inconsciência do rebanho libera um fundo pulsional que não se liga mais ao desejo – pois este supõe a singularidade. Durante a década de 1940, a indústria americana pôs em ação técnicas de marketing que não cessaram depois de se intensificar, produzindo uma miséria simbólica, libidinal e afetiva. Essa última conduz à perda daquilo que eu próprio chamei o narcisismo primordial [15].
A fábula pós-industrial não compreende que a força do capitalismo contemporâneo repousa sobre o controle simultâneo da produção e do consumo, regulando as atividades das massas. Ela propaga a falsa idéia de que o indivíduo é aquilo que se opõe ao grupo. Simondon demonstrou, ao contrário, que o indivíduo é um processo. E que se transforma ininterruptamente naquilo que ele é. Ora, só nos individualizamos coletivamente. O que torna possível essa individuação intrinsecamente coletiva é o fato de que a individuação de uns e de outros resulta da apropriação, por cada singularidade, daquilo que Simondon chamou de fundo pré-individual comum a todas as singularidades.
Herança oriunda da experiência acumulada das gerações, o fundo pré-individual sobrevive apenas na medida em que é apropriado singularmente e assim transformado pela participação dos indivíduos psíquicos que o compartilham. Mas só é compartilhado aquilo que é, a cada vez, individuado. E só é individuado na medida em que for singularizado. O grupo social se constitui como composição de uma sincronia, na medida em que se reconhece em uma herança comum, e de uma diacronia, na medida em que torna possível e legítima a apropriação singular por cada membro do grupo desse fundo pré-individual [16].
As indústrias de programas tendem, ao contrário, a opor sincronia e diacronia, visando produzir uma hipersincronização que torna tendencialmente impossível a apropriação singular do fundo pré-individual constituído pelos programas. A grade desses programas substitui o que André Leroi-Gourhan denominou de programas socio-étnicos: ela é concebida para que o meu passado se torne igual ao passado dos meus vizinhos, e para que nossos comportamentos se gregarizem.
Um eu é uma consciência consistindo em um fluxo temporal do que Husserl chamou de “retenções primárias”, isto é, aquilo que a consciência retém, no agora, do fluxo em que ela consiste. Assim a nota que ressoa em uma nota se apresenta à minha consciência como o ponto de passagem de uma melodia: a nota precedente continua presente, mantida no e pelo agora; e constitui a nota que a sucede, formando com ela uma relação, o intervalo. Como fenômenos que eu recebo e que eu produzo (uma melodia que executo ou ouço, uma frase que pronuncio ou escuto, um gesto que executo ou sofro etc.), minha vida consciente consiste essencialmente de tais retenções.
Ora, essas últimas são seleções: não retenho tudo o que pode ser retido [17]. No fluxo daquilo que aparece, a consciência opera seleções que são propriamente as retenções: se eu ouço duas vezes em seguida a mesma melodia, minha consciência do objeto muda. E tais seleções se fazem através dos filtros em que consistem as retenções secundárias, isto é, as reminiscências de retenções primárias anteriores, que a memória conserva e que constituem a experiência.
A vida da consciência consiste nesses agenciamentos de retenções primárias, filtradas por retenções secundárias, enquanto as relações das retenções primárias e secundárias são sobredeterminadas pelas retenções terciárias: os objetos-suportes da memória e as mnemotécnicas, que permitem registrar sinais – notadamente os fotogramas, fonogramas, cinematogramas, videogramas e tecnologias digitais, que formam a infra-estrutura tecnológica das sociedades de controle na época hiperindustrial.
As retenções terciárias são o que, tal qual o alfabeto, sustentam o acesso aos fundos pré-individuais de toda individuação psíquica e coletiva. Existem em todas as sociedades humanas. Condicionam a individuação como partilha simbólica, que torna possível a exteriorização da experiência individual por meio de sinais. Quando se tornam industriais, as retenções terciárias constituem tecnologias de controle que alteram fundamentalmente a troca simbólica: repousando sobre a oposição entre produtores e consumidores, elas permitem a hipersincronização dos tempos das consciências.
Estas tornam-se cada vez mais tramadas pelas mesmas retenções secundárias e tendem a selecionar cada vez mais as mesmas retenções primárias: percebem então que não têm muita coisa a dizer umas às outras e se encontram cada vez menos. Ei-las remetidas à sua solidão, diante das telas nas quais consagram cada vez menos seu tempo ao lazer – isto é, a um tempo liberado de qualquer coerção.
Tamanha miséria simbólica conduz à ruína do narcisismo e à debandada econômica e política. Antes de ser uma patologia, o narcisismo condiciona a psique, o desejo e a singularidade [18]. Ora, se, com o marketing, não se trata mais apenas de garantir a reprodução do produtor, mas de controlar a fabricação, a reprodução, a diversificação e a segmentação das necessidades do consumidor, são então as energias existenciais que garantem o funcionamento do sistema, como frutos do desejo dos produtores, de um lado, e dos consumidores, do outro – o trabalho, como o consumo, representando a libido captada e canalizada. O trabalho em geral é sublimação e princípio de realidade. Mas o trabalho industrialmente dividido traz cada vez menos satisfação sublimatória e narcísica, e o consumidor cuja libido é captada encontra cada vez menos prazer em consumir: ele debanda, então, trespassado pela compulsão da repetição.
Nas sociedades de modulação que são as sociedades de controle, trata-se de condicionar, por meio das tecnologias audiovisuais e digitais da aisthesis [19], os tempos de consciência e o inconsciente dos corpos e das mentes. Na era hiperindustrial, a estética – como dimensão do simbólico transformada a um só tempo em arma e teatro da guerra econômica – substitui a experiência sensível dos indivíduos psíquicos e sociais pelo condicionamento das hipermassas. A hipersincronização conduz à perda da individuação pela homogeneização dos passados individuais, arruinando o narcisismo primordial e o processo de individuação psíquica e coletiva, que permitia a distinção entre o eu e o nós, doravante confundidos na enfermidade simbólica de um amorfo e indefinido “alguém”. Nem todos são igualmente expostos ao controle. Vivemos quanto a isso uma fratura estética, como se o nós se dividisse em dois. Mas nós todos, e nossos filhos mais ainda, estamos fadados a esse sombrio destino – se nada for feito para sobrepujá-lo.
O século 20 levou ao extremo as condições e a articulação da produção e do consumo, com as tecnologias do cálculo e da informação para o controle da produção e do investimento e com as tecnologias da comunicação para o controle do consumo e dos comportamentos sociais, incluídos os comportamentos políticos. Agora, essas duas esferas integraram-se. A grande ilusão não é mais, desta vez, a “sociedade do lazer”, mas a “personalização” das necessidades individuais. Félix Guattari [20] falava de produção de “dividuais”, isto é, de particularização das singularidades pela submissão às tecnologias cognitivas.
Essas últimas permitem – por meio da identificação dos usuários (users profiling) e outros novos métodos de controle – um uso sutil do condicionamento, mobilizando tanto Pavlov quanto Freud. Assim funcionam os serviços que incitam os leitores de um livro a lerem outros livros lidos por outros leitores desse mesmo livro. Ou os mecanismos de busca que valorizam as referências mais consultadas, reforçando a consulta dessas mesmas referências.
Doravante, as mesmas máquinas digitais pilotam, pelas mesmas normas e padrões, os processos de produção das máquinas programáveis das oficinas virtuais teleguiadas pelo controle remoto, posto que a robótica industrial transformou-se essencialmente em uma mnemotecnologia de produção. Postas a serviço do marketing, elas organizam também o consumo. Ao contrário do que pensava Benjamin, não se trata do desenvolvimento de um narcisismo de massa, mas, ao inverso, da destruição massiva do narcisismo individual e coletivo pela constituição das hipermassas. Em outras palavras, trata-se da liquidação da exceção, isto é, da gregarização generalizada, induzida pela eliminação do narcisismo primordial.
Os objetos temporais industriais substituem as histórias individuais e os imaginários coletivos, tramados no interior do processo de individuação psíquica e coletiva, por padrões estandardizados de massa, que tendem a reduzir a singularidade das práticas individuais e suas características de exceções. Ora, a exceção é a regra, mas uma regra jamais formulável. Ela só é vivida na ocorrência de uma irregularidade. Não é formalizável nem calculável por um aparelho de descrição regular aplicável a todos os casos que constituem as diferentes ocorrências à revelia dessa regra. Por isso, durante muito tempo, ela foi remetida a Deus, que constituía o irregular absoluto como regra de incomparabilidade das singularidades. O marketing torna estas últimas comparáveis e categorizáveis, transformando-as em particularidades vazias, reguláveis pela captação ao mesmo tempo hipermassificada e hipersegmentada das energias libidinais.
Trata-se de uma economia antilibidinal: só é desejável aquilo que é singular e sob esse aspecto excepcional. Só desejo o que me parece excepcional. Não há desejo da banalidade, mas uma compulsão de repetição que tende à banalidade.
A psique é constituída por Eros e por Tanatos, duas tendências que se compõem incessantemente. A indústria cultural e o marketing visam impulsionar o desejo do consumo, mas, de fato, reforçam a pulsão de morte, por provocar e explorar o fenômeno compulsivo da repetição. Contrariam assim a pulsão de vida: quanto a isso, e porque o desejo é essencial ao consumo, esse processo é autodestruidor ou, como diria Jacques Derrida, auto-imunizador.
Só posso desejar a singularidade de algo na medida em que esse algo é o espelho da singularidade que eu sou, mas que ainda ignoro, e que este algo me revela. Porém, na medida em que o capital precisa hipermassificar os comportamentos, precisa também hipermassificar os desejos e gregarizar os indivíduos. A partir daí, a exceção é aquilo que deve ser combatido – o que Nietzsche antecipara afirmando que a democracia industrial só podia engendrar uma sociedade-rebanho. Eis uma verdadeira aporia da economia política industrial. Pois o controle das telas de projeção do desejo de exceção induz a tendência dominante tanatológica, isto é, entrópica. Tanatos é a submissão da ordem à desordem. Tanatos tende à equalização de tudo: é a tendência à negação de qualquer exceção.
O problema não se limita àquilo que se chama comumente “cultura”: a existência cotidiana, sob todos os seus aspectos, é submetida ao condicionamento hiperindustrial dos modos de vida. Trata-se do mais inquietante problema de ecologia industrial: as capacidades mentais, intelectuais, afetivas e estéticas da humanidade estão massivamente ameaçadas, e no momento mesmo em que os grupos humanos dispõem de meios de destruição sem precedentes.
A debandada que a ruína da libido provoca é também política. Na medida em que os responsáveis políticos adotam técnicas de marketing para se transformarem, eles próprios, em produtos, os eleitores sentem o mesmo desgosto por eles que sentem por todos os demais produtos.
Já é tempo de os cidadãos e seus representantes despertarem: a questão da singularidade tornou-se crucial e não haverá política futura que não seja uma política das singularidades – sem o que, florescerão os nacionalismos mais extremos e os fundamentalismos de toda espécie.
[1] Gilles Deleuze (1925-1965), filósofo.
[2] Pourparlers, Editions de Minuit, Paris, 2003.
[3] cf. De la misère symbolique. 1. L’époque hyperindustrielle. Galilée, Paris, 2004.
[4] Gilbert Simondon (1924-1989), filósofo.
[5] Le Monde, 10 de abril de 2002. Cf. também Aimer, s’aimer, nous aimer. Du 11 septembre au 21 avril. Galilée, Paris, 2003.
[6] Sigmund Freud, O mal-estar na civilização, Rio de Janeiro, Imago, 1997.
[7] Jean-Michel Frodon, La Projection nationale. Cinéma et nation. Paris, Odile Jacob, 1998.
[8] Walter Benjamin (1892-1940), filósofo alemão.
[9] Sigmund Freud, op. cit.
[10] Thedor W. Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), filósofos alemães, fundadores da escola de Frankfurt.
[11] Karl Kraus (1874-1936), escritor austríaco e crítico dos meios de comunicação.
[12] Tentei, em La technique et le temps. 1. Le temps du cinéma et la question du mal-être (Galilée, 2001, capítulo primeiro), demonstrar por que essa análise permanece insuficiente: os autores retomam favoravelmente o pensamento kantiano do esquematismo, sem se darem conta que as indústrias culturais requerem justamente a crítica do kantismo.
[13] Vance Packard, La Persuasion clandestine. Paris, Calmann-Lévy, 1958.
[14] Edmund Husserl (1859-1938), filósofo alemão, pai da fenomenologia.
[15] Aimer, s’aimer…, op. Cit.
[16] A sincronia designa aqui o estado da cultura em seu conjunto em um momento dado e a diacronia, as mudanças, os saltos, as evoluções que nela introduzem os indivíduos.
[17] As retenções primárias formam relações. Em uma melodia, por exemplo, as notas em arpejo que compõem intervalos e acordes ou, em uma frase, os elos semânticos e sintáticos.
[18] Esse termo se aplica “à descoberta do fato de que o eu, também ele, é investido de libido. Ele seria mesmo seu local de origem e, em certa medida, permaneceria o quartel general” (Freud, O mal-estar na civilização, op.cit.).
[19] Vocábulo grego, do qual provém a palavra “estética”, que significa “faculdade de sentir”.
[20] Félix Guattari (1930-1992), psicanalista, pioneiro da antipsiquiatria.
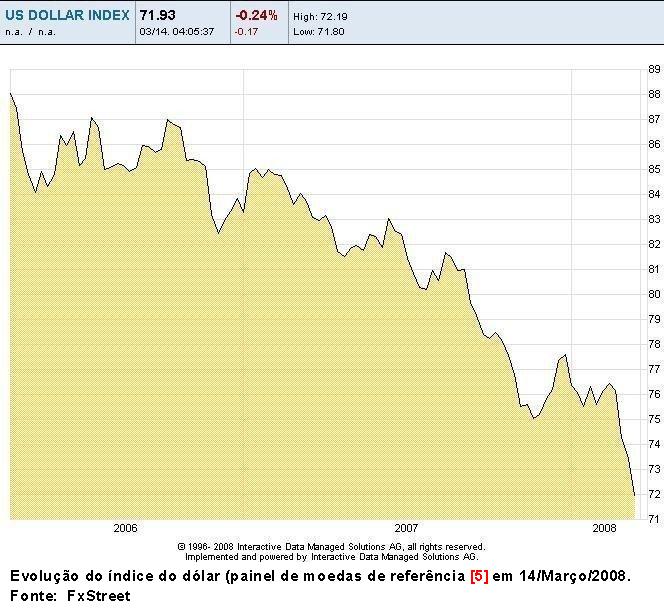
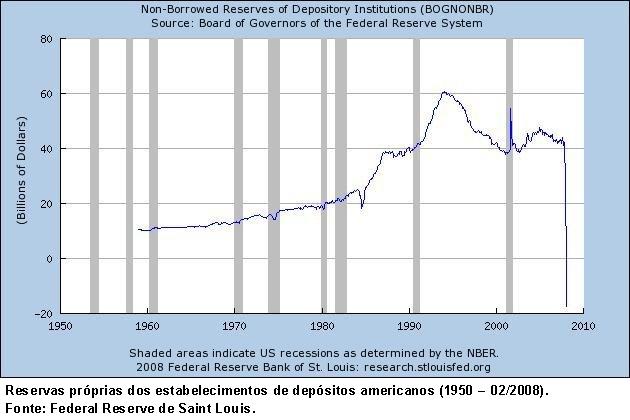
 A profunda crise financeira e económica de hoje não pode ser suavizada sem tratar de um certo número de problemas acerca dos quais o público realmente não quer ouvir falar. Simplesmente mencioná-los levanta uma muralha de dissonância cognitiva.
A profunda crise financeira e económica de hoje não pode ser suavizada sem tratar de um certo número de problemas acerca dos quais o público realmente não quer ouvir falar. Simplesmente mencioná-los levanta uma muralha de dissonância cognitiva.