
Friedrich Nietzsche

"O ensino, como a justiça, como a administração, prospera e vive muito mais realmente da verdade e moralidade, com que se pratica, do que das grandes inovações e belas reformas que se lhe consagrem." Rui Barbosa
“Pare de fumar, proteja seu capital saúde!”: a mensagem cobriu os muros das cidades francesas e ocupou as primeiras páginas dos jornais [1]. Como se houvéssemos esquecido que a saúde é uma construção cultural pessoal para fazermos dela um trunfo, um bem, um capital – cujo rendimento depende das escolhas estratégicas e da responsabilização de cada indivíduo. Já em 1975, Michel Foucault analisava o “olhar médico” como um dos componentes de nossas “sociedades de controle” modernas [2]. Trinta anos depois, são bem tímidas as análises críticas que poderiam esclarecer o lugar do novo discurso sobre a saúde no coração da economia de mercado. Afinal, quem ousaria criticar a norma dominante de otimização dos corpos e dos órgãos, de prevenção dos riscos e de plenitude? Ela é apresentada agora à maneira de um processo natural: um bom instinto que os novos especialistas da saúde saberiam despertar em nós.
Pois o capitalismo avançado, com seu ímpeto vitalista, seu imperativo de mobilização dos corpos, tornou inaudível toda opinião discordante. A hora é de chantagem unânime pela gestão individual da saúde. Contra o tabaco, o álcool, a poluição, os raios solares. “Dois em cada três franceses correm risco”, constatava no fim de 2007 uma pesquisa encomenda pelas marcas Kiria e Philips: “Um desapego que às vezes beira a desfaçatez”, comentam os especialistas em tom paternalista, enquanto os psicólogos sofrem para explicar por que os seres humanos são tão negligentes com seu bem mais precioso – em particular os adolescentes, que formam “a população que mais põe em risco a saúde”. Felizmente, a mania dos “sociotipos”, que esconde há trinta anos os conflitos de classe por trás da cortina de fumaça dos “estilos de vida”, vem ajudar os tomadores de decisão a achar um paliativo para essa inconseqüência criminosa, ao lhes propor dividir os franceses em quatro “famílias” quanto à questão da saúde: os “despreocupados” (27%), os “clássicos” (25%), os “preventivos” (24%) e os “fatalistas (24%) – estes últimos freqüentemente pobres e/ou jovens.
Ao redefinir a saúde como uma obrigação pessoal de prevenção, segundo a lógica hoje dominante do “risco” e de sua imputação individual, as seguradoras, os empresários do setor e a mídia especializada deram credibilidade à idéia-chave de um “dever de saúde” ao qual ousariam desobedecer, às próprias custas, e às custas da coletividade, os fumantes, os bebedores, os que se alimentam mal, os não-esportivos e outros depressivos crônicos “que recusam se tratar”. É a eles, e somente a eles, que devem ser imputadas as debilidades de suas funções vitais – mas também, de quebra, as debilidades da economia nacional, “redistributiva” durante tempo demais, segundo os novos economistas da saúde. É o caso do acadêmico Claude Le Pen (deplorando o “fenômeno de dicotomia clássica” de pacientes inquietos que no entanto não fazem “o que é preciso fazer”) ou do deputado socialista Jean-Marie Le Guen (que lamenta não haver na França a “cultura da saúde pública” nem atitudes individualmente responsáveis diante do “rombo da previdência”).
Teorizada alguns anos atrás por um filósofo egresso do maoísmo, François Ewald, e pelo co-presidente do Medef (Movimento das Empresas da França), Denis Kessler [3], com os nomes retumbantes de “riscologia” (a teoria do risco como “último elo social”) e de “princípio de precaução”, a detecção sistemática de todas as condutas de risco e a abordagem subjacente a ela em termos de maximização e de amortização individual invadiram pouco a pouco todas as regiões da existência que tinham permanecido intocadas por elas. Pois agora é preciso prevenir a pane sexual do casal com filho(s); organizar as férias como um reabastecimento otimizado; aderir a uma dieta da vida saudável ou a uma nova biopolítica da magreza; dedicar-se ao esporte para viver mais tempo ou para garantir desde já um “corpo para fora” (“corps du dehors”, segundo a expressão de Georges Vigarello para designar a motivação estético-narcisista, agora decisiva, de toda prática esportiva); e, por que não, experimentar a aventura extrema por meio de “injeções de adrenalina”. Em suma, é mesmo culpa de cada um se infortúnios tão anacrônicos quanto as enfermidades ou a decadência do corpo ainda se abatem sobre nós neste fim de 2007.
Na maioria desses casos, passou-se da saúde enquanto estado de resistência à doença à saúde como prevenção de todo risco físico ou existencial e, logo, à saúde como vetor de otimização do indivíduo, isto é, antes de mais nada, de sua força de trabalho. Ela não é mais apenas um estado de equilíbrio, mas um ideal de florescimento pessoal e profissional, sintetizado na rubrica ampla e vaga da “boa forma”, em voga na França desde o início dos anos 1980. O mensário Vital (criado em 1980), aliás, tinha como slogan uma fórmula um pouco ultrapassada, que enuncia este vínculo entre saúde, mobilização de si e apelo a se realizar plenamente: “Será que não vale a pena olhar o próprio umbigo mais de perto?”.
E isso também porque, como resume Les Echos, “as empresas querem funcionários em forma”. Assim, temos novos programas de saúde incitativos (na PepsiCo ou na Unilever), sensibilização para a alimentação saudável (no Crédit Agricole), objetivo personalizado de melhoria do balanço de saúde (na Kraft Food), competição para recompensa dos empregados mais zelosos com a saúde (com o grande prêmio AXA-Santé) ou mesmo, nos Estados Unidos (que aqui, mais uma vez, levam uma ampla dianteira), multas aos funcionários recalcitrantes “em caso de objetivo ponderal não atingido” (no Clarian Health Partner) [4].
Desse modo, as empresas mais inovadoras se tornam o elo de transmissão eficaz das novas biopolíticas de Estado, ou dessa função de tomar conta dos corpos e das vidas por parte da administração pública, outrora apontada por Foucault (que a viu emergir entre a Revolução Francesa e meados do século 21). Há algumas décadas, ela deu uma nova guinada: extensão das políticas de prevenção, moralização dos comportamentos, controle das condutas e das atitudes de risco. Em outras palavras, no momento de aposentadoria do velho Estado de Bem-Estar Social, o cuidado com os corpos “cidadãos” tornou-se menos repressivo do que incitativo, menos estatal do que “responsabilizante”, menos diretamente prescritivo do que voltado a favorecer a internalização do controle. Ou, para empregar o vocábulo dos últimos anarquistas, favorecer o endoflicage (de endo, “interno”, e flic, “policial”, portanto, uma “internalização do policiamento”).
Gigantes farmacêuticas e especialistas de Estado, ministérios da república e a mídia privada, anunciantes e comitês de ética se encontram aqui lado a lado, menos no sentido conspiratório de uma aliança dos poderosos pelas costas dos cidadãos do que no sentido mais profundo da lógica neoliberal – cuja genealogia histórica [5] Foucault também propusera em seu tempo. Ele definia o neoliberalismo , simultaneamente, como uma autolimitação da política, com um governo “frugal” submisso às forças do mercado, e como uma nova modalidade da política. Uma política da vida, ou “biopolítica”, visa organizar e favorecer a “produção da vida”, visa delegar, para tanto, aos indivíduos atomizados (eleitores e/ou consumidores) uma função decisiva de controle e de maximização de si (em torno do conceito de “governabilidade”, ou de governo de/sobre si) e impor normas estritas no domínio da relação dos corpos entre si, de cada corpo com sua (sobre)vida e da vida mesma com seu “pleno cumprimento”.
Assim, quando não são unicamente os engenheiros da ecologia ou da alimentação orgânica que nos dizem como viver, tanto para o nosso próprio bem como para o bem do corpo coletivo, mas também os riscologistas, os economistas, os políticos, os diretores de recursos humanos, os terapeutas de programas de televisão, os treinadores esportivos, os sexólogos, os gigantes do medicamento, e até a própria família, preocupadas em otimizar nosso capital-saúde, então este corpo que nos é atribuído deixa definitivamente de ser nosso. Esse corpo utópico, que todas as publicidades trombeteiam, esse corpo onipresente, que pavoneamos triunfalmente com o possessivo “meu corpo”, se torna, bem ao contrário, o lugar da mais insidiosa das expropriações: já não é de modo algum “meu corpo”, se é que algum dia o foi. Menos ainda do que na época em que as múltiplas proibições o constrangiam e em que um soberano tinha sobre ele o direito de vida e de morte. Menos ainda do que numa época, hoje esquecida, em que esse corpo, improvisado, gozador e mortal, ainda não havia sido investido, em seus orifícios mais íntimos, de todos os poderes do momento.
[1] Ver, por exemplo, os dossiês especiais publicados em Le Figaro (26 de novembro de 2007) e Les Echos (3 de outubro de 2007).
[2] Ver principalmente Michel Foucault, Vigiar e punir, Petrópolis, Vozes, 1977.
[3] François Ewald e Denis Kessler, “Les noces du risque et de la politique”, Le Débat, n.º 109, Paris, 2000.
[4] “Les entreprises veulent des salariés en forme”, Les Echos, 3 de outubro de 2007.
[5] Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 2004.
A quantidade de seguranças não pára de crescer. Shopping centers, supermercados, estações, vias públicas, escritórios, universidades, museus, estacionamentos, eventos esportivos e culturais: não há mais um lugar em que não se veja a silhueta dos “profissionais da vigilância” e seu olhar desconfiado dirigido à multidão. Habituamo-nos com sua presença. Habituamo-nos a fornecer o documento de identidade e a abrir a bolsa para ser revistada. Docilmente, deixamos que chamem nossa atenção.
Cento e cinqüenta mil agentes empregados na França em 2007; 8,5% de crescimento médio anual desde 1998; 60 mil novas vagas a preencher até 2015. A luta contra o terrorismo tem sido o pretexto fácil que permite a qualquer um equipar sua loja, seu estabelecimento, seus locais de trabalho com esses agentes de prevenção e de segurança (APS) [1]. Mas que ninguém se engane, a função desses agentes é, antes de tudo, de ordem econômica: dissuadir os ladrões, prevenir o vandalismo, garantir uma utilização adequada dos equipamentos e dos espaços postos à disposição do público etc. Dispositivos tecnológicos de ponta (circuito interno de televisão, sistemas de alarme e de detecção), controlados pela própria segurança, contribuem para a eficácia da missão. Portanto, é a segurança do próprio estabelecimento (mercadorias, equipamentos, caixa, pessoal) que os APS e seus dispositivos de vigilância têm de garantir – contrariamente ao que se alega com frases do tipo “para seu conforto e segurança, uma empresa de vigilância está presente em nossa loja”.
No entanto, graças precisamente a essa impostura, a presença maciça de seguranças no conjunto do campo social produz efeitos invisíveis no público. Efeitos que têm sua origem exatamente no halo de confusão que cerca o exercício dessa profissão. Confusão quanto a seu papel, quanto a seu status, quanto a seu poder e, por fim, quanto à definição mesma dessa “segurança” que eles supostamente garantem e que justifica o aumento incessante de seus efetivos. Os indivíduos, quando confrontados cotidianamente com os APS, acabam por sobrepor as esferas bem delimitadas da vida social, a confundir determinados domínios com outros, a adotar comportamentos que não têm razão de ser. A onipresença dos seguranças tende a misturar o regime da lei e o regime da regra (por exemplo, o regulamento interno de um local) e a borrar a distinção entre o espaço público e o espaço privado.
O status do APS envolve, de fato, não apenas todo um conjunto de profissões (vigilantes, agentes de segurança, agentes de prevenção de roubos, operadores de circuito interno de televisão, brigadistas de incêndio, adestradores de cães etc.) como também de atividades (guarda, vigilância, proteção pessoal, transporte de bens, controle de equipamentos técnicos etc.). Sob o pretexto de que estão todas ligadas, direta ou indiretamente, ao domínio da “segurança”, as funções se multiplicam e freqüentemente se sobrepõem: um agente de brigada de incêndio pode também proceder ao controle do público (nos museus) ou à interpelação de indivíduos suspeitos (nos shopping centers). De igual modo, o trabalho de um agente de segurança engloba “missões de recepção e de controle de acesso, de ronda de vigilância, de controle do respeito às normas de segurança do local, de intervenção de emergência, de alerta e de orientação das equipes de socorro, de redação dos relatórios de eventos ou de atividade”.
Nesses termos, passa-se imperceptivelmente da informação para a prevenção, da prevenção para a intervenção, da intervenção para a repressão. Na grande maioria dos casos, o público não sabe muito bem onde começa e onde termina a função de um APS. Única constante: terno preto, gravata idem, coturnos, crachá, fones de ouvido, walkie-talkie: o uniforme do segurança tem a função principal de instituir uma dissimetria, uma relação de autoridade, e portanto de poder, entre ele e os indivíduos a quem se dirige. Relação de autoridade e poder que permanece totalmente ilegítima do ponto de vista do direito.
O Livro branco sobre a segurança privada, elaborado em 2003 pelo Ministério da Segurança Pública do Quebec, Canadá, insiste diversas vezes neste ponto: “um dos principais problemas suscitados hoje pela segurança privada nos países ocidentais é a superposição dos papéis entre os serviços públicos e os serviços privados”. Por conseguinte, “a ausência de regras que rege a indústria da segurança privada é suscetível de criar, entre os diversos participantes, uma grande confusão quanto às práticas que são aceitáveis e as que não são”. E de criar também uma confusão no espírito dos cidadãos: “tal situação pode levar os cidadãos a confundir a incumbência particular de proteção do lucro do proprietário por uma agência de segurança privada com a incumbência de segurança pública com relação à comunidade” [2].
Acrescentemos ainda: confusão entre os empregadores que, valendo-se da situação, ou mal informados, atribuem invariavelmente aos seguranças direitos que não lhes cabem. Contudo, os seguranças não são policiais militares, nem sequer guardas civis. Eles não pertencem ao contingente das forças da ordem. Regras muito estritas estipulam isso – mesmo que sejam apenas regras relativas à vestimenta: “salvo exceções, os APS devem trajar, no exercício de suas funções, vestimentas particulares. Estas não podem acarretar nenhuma confusão com os uniformes dos agentes dos serviços públicos” [3].
Ora, mesmo que essa exigência de distinção de trajes fosse respeitada, o que está longe de ser o caso mais freqüente, os APS se apresentam sempre, do ponto de vista simbólico, como representantes da lei – ou pelo menos como representantes dos representantes dela. Se um agente da polícia é o intermediário entre o cidadão e a justiça, o segurança não seria outra coisa senão o intermediário entre o cidadão e esse agente da polícia. Todo um cálculo do medo preside a instauração desse poder de dissuasão.
Encarregados de vigiar, de controlar e principalmente de dar o alerta; agindo em nome de imperativos de segurança; zelando pelo respeito de um código prescritivo; equipados às vezes para enfrentar a violência; iniciadores de uma relação de poder ou de autoridade, os seguranças, onde quer que atuem, fazem pairar a ameaça da lei.
No entanto, os APS são cidadãos como os outros. Não têm mais direitos. Nem mais privilégios ou autoridade. E é espantoso que a mídia nunca divulgue uma informação tão fundamental. Os seguranças são profissionais do mesmo tipo que os frentistas de um posto de gasolina ou os garçons de um restaurante. Isso equivale a dizer que desempenham, na maior parte do tempo, um papel que não lhes cabe. Pois não somente o segurança não está mais perto da lei ou da justiça que o cidadão comum, como também está sujeito a elas nas mesmas condições [4].
Como qualquer cidadão, o segurança pode, sem dúvida, proceder à detenção de supostos delinqüentes, conforme as disposições do artigo 73 do Código de Processo Penal francês. Todavia, esse direito só pode ser exercido no caso de um crime ou delito flagrante, “punido com pena de detenção”. Tais crimes ou delitos – assim como os casos de incêndio ou mal-estar súbito – são sempre raros. Mas, ao contrário dos bombeiros e dos paramédicos, que intervêm somente depois que o incidente acontece, os seguranças se sentem muitas vezes tentados a dirigir sua mira autoritária para qualquer episódio de menor importância. Fazem isso para se livrar do tédio, justificar sua presença ou por simples força do hábito.
De fato, no dia-a-dia de seu exercício, o trabalho de um segurança não consiste em deter supostos delinqüentes e retê-los até a chegada das forças da ordem. O trabalho de um segurança não se situa no terreno da lei, mas no da regra. Consiste simplesmente em garantir que o regulamento interno de um espaço de destinação comercial seja bem utilizado pelo público que ele acolhe [5]. Não comer fora dos espaços previstos para tal fim, não tirar fotos com flash, não distribuir panfletos de conteúdo político, não introduzir objetos cortantes que possam ferir, não pisar na grama etc.: eis o tipo de regras que o segurança tem por função fazer respeitar, ao mesmo tempo em que não dispõe de nenhum poder que lhe dê autoridade para tanto.
Os seguranças intervêm em lugares privilegiados que podemos chamar de “propriedades privadas de massa” [6]. Os shopping centers ou os conjuntos de salas de cinema são certamente espaços privados, ou seja, espaços cuja gestão cabe a um particular ou a uma empresa independente, mas também espaços abertos ao público e nos quais se desenrola uma parte cada vez mais importante da vida em sociedade. Esses espaços ambivalentes se distinguem dos espaços públicos tradicionais pelo fato de serem estritamente “funcionais”.
E o que é um espaço funcional? É um espaço cuja razão de ser, função e legitimidade em matéria de freqüentação e uso é fixada previamente e codificada por um regulamento interno [7]. Um espaço dividido em unidades monofuncionais (espaço lazer, espaço alimentação, espaço crianças, espaço fumante etc.) que permitem a qualquer indivíduo que se encontre numa dessas unidades saber precisamente o que se espera que ele deva e possa fazer. Um espaço, portanto, no qual todos os itinerários foram traçados previamente, e todos os comportamentos foram previstos. Um espaço “lógico” – isto é, fundado num sistema finito de relações necessárias entre pessoas, objetos e signos – em que cada uma das partes está inteiramente subordinada à realização desse plano geral.
Em decorrência disso, um espaço funcional é também um espaço no qual são acolhidos somente os indivíduos que aceitam se sujeitar a esse plano. Um supermercado, uma sala de cinema, um museu, um parque aquático, um estacionamento são espaços funcionais. Os indivíduos que não respeitam as funções respectivas desses lugares, que não respeitam, portanto, as cláusulas de seus diferentes regulamentos, mesmo que não sejam por isso julgados “fora da lei”, são ainda assim considerados “indesejáveis”. Assim, cada um desses lugares suscita em seus administradores a tentação de regular o acesso e de fazer por conta própria a separação entre o público bem-vindo (freqüentadores, usuários, consumidores, funcionários etc.) e o público indesejável (desocupados, bandos de jovens, manifestantes etc.).
O paradoxal é que cada indivíduo, assim que ali penetra, pertence, em princípio, e ao mesmo tempo, a uma e à outra dessas duas categorias. O hipermercado fornece o exemplo típico. Trata-se de um lugar verdadeiramente insidioso, pelo fato de convocar os consumidores a vir até ele (publicidade, cartazes, estacionamento gratuito), de escancarar suas portas (automáticas), de acolhê-los com um sorriso (atendimento), mas também de ter grande dificuldade, em seguida, em deixá-los sair sem uma certa dose de suspeição (câmeras, alarmes). Pois, se todo indivíduo deve ser bem recebido, e quase contra a vontade, já que é antes de tudo um consumidor potencial, ao mesmo tempo, é declarado suspeito, e portanto indesejável, já que é também um delinqüente em potencial.
Cabe então aos seguranças prevenir, retificar ou reprimir todo tipo de acontecimento que ultrapasse o contexto funcional previamente estabelecido – todo tipo de acontecimento que tenha um custo, ainda que mínimo, para o proprietário: custo em termos de caixa, em primeiro lugar, mas também em termos de imagem, de reputação, de freqüentação etc.
Contudo, a função dos APS nunca pode ser nada além de preventiva. Seu único direito, além de estar presentes no local, é o de informar o público quanto às disposições do regulamento interno. Mas uma vez infringidas essas disposições, eles não detêm nenhum poder que lhes permita reprimir essas mesmas infrações. Apenas o poder de constatá-las, de registrar a modalidade delas num relatório e, se for o caso, de chamar as forças da ordem.
Na prática, porém, o APS acaba atuando no duplo registro da lei e da regra, e tende a transformar o menor lapso, o menor sobressalto, o menor evento em um ato de delinqüência. A tal ponto que o indivíduo “desviante”, sem nunca saber ao certo se está lidando ou não com um representante da lei, tende a aceitar a repreensão como exigência do cumprimento da lei. Ele imagina que seu comportamento é “ilegal”, quando na verdade é simplesmente “anormal” (com relação a uma norma contingente).
A confusão entre esses dois registros tem, em parte, sua origem no fato de se ter transformado uma relação de autoridade informal numa relação de autoridade formal. Ela não se deve tanto à existência do próprio regulamento interno e, sim, ao fato de que este é freqüentemente aplicado por profissionais externos à função do estabelecimento em questão. Até recentemente, cabia ao próprio pessoal dos estabelecimentos (caixas, chefes de seção, gerentes, bibliotecários etc.) o encargo de impor o respeito às regras – e, portanto, de repreender os indivíduos não-cooperantes de maneira informal, ou seja, humana e viva, maneira que podia mudar em função das personalidades e das circunstâncias. Hoje em dia, os APS, empregados por empresas terceirizadas, são, ao contrário, obrigados a fazer cumprir o regulamento ao pé da letra, a seguir um protocolo, a informar seus superiores, a redigir relatórios.
Antes, uma certa flexibilidade ainda podia ser exercida na relação de poder. Agora, o que prevalece é a ordem matemática e mecânica: as mesmas causas observadas devem provocar os mesmos efeitos.
O filósofo Michel Foucault mostrou muito bem quais efeitos invisíveis podiam ser induzidos por essa confusão entre o regime da lei e o regime da regra – confusão característica das sociedades ditas “disciplinares”. Ela termina de fato “tornando natural e legítimo o poder de punir, rebaixando o patamar de tolerância à penalidade”. Ela “tende a apagar o que pode haver de exorbitante no exercício do castigo”. E isso ao fazer que “se troque um pelo outro os dois registros”: “o registro legal, da justiça, e o extra-legal, da disciplina” [8].
A presença de vigilantes nos lugares públicos, ou de acolhida do público, vai no sentido de um açambarcamento do conjunto do campo social pela lógica do mundo carcerário, que dá, assim, uma espécie de caução legal aos mecanismos disciplinares, bem como às decisões e às punições que eles engendram. “A generalidade carcerária, ao agir em toda a espessura do corpo social e ao misturar incessantemente a arte de retificar com o direito de punir, rebaixa o nível a partir do qual se torna natural e aceitável ser punido”.
O regime da regra, cuja extensão os seguranças contribuem para generalizar, compromete perigosamente o exercício das liberdades individuais. Leva os indivíduos a aceitar mais facilmente as relações de autoridade, a se mostrar mais dóceis diante das manifestações do poder, a normalizar seus comportamentos, a reprimir toda forma de excentricidade ou de extravagância. Premune contra toda forma de manifestação de ordem política ou contra todo ato de desobediência civil.
Em nome das exigências de uma pretensa segurança ainda não justificada, os gestores das “propriedades privadas de massa” convocam os indivíduos que as freqüentam a respeitar regulamentos muitas vezes liberticidas, armando-se de profissionais encarregados de vigiá-los de perto. Se houver aqui alguma coisa aqui da esfera do fascismo, será mais adequado falar de “microfascismo” [9]. Não há nenhum plano global que fixe suas modalidades de aplicação, nenhum agente específico que seja seu instigador, nenhum texto fundador que enuncie sua doutrina geral, nenhuma conspiração. Nada além de um conjunto de vontades particulares que se unem, se somam, se reforçam, para constituir um regime autoritário difuso, cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar algum. Regime que oferece, por isso mesmo, muito poucas brechas para quem deseja derrubá-lo.
[2] Livre blanc: la sécurité privée partenaire de la sécurité intérieure, Ministère de la Sécurité Publique du Québec, dezembro de 2003.
[3] Lei nº 83-629, de 12 de julho de 1983.
[4] Idem
[5] A apresentação dos “principais encargos da segurança e vigilância humanas” no site do SNES insiste nestes pontos: “controle do respeito das regras de segurança do local”; “aplicação das normas definidas”; “respeito da regulamentação” etc.
[6] Clifford D. Shearing e Philip C. Stenning, “La propriété privée de masse”, em Problèmes politiques et sociaux, Paris, La Documentation Française, novembro de 2006.
[7] O estabelecimento de um regulamento interno é obrigatório nas empresas, lojas, escritórios, associações etc que empreguem habitualmente ao menos vinte funcionários.
[8] Michel Foucault, Vigiar e punir, Petrópolis, Vozes, 1977.
[9] Gilles Deleuze, Deux régimes de fous, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003: “O velho fascismo, por mais atual e poderoso que seja em muitos países, não é o novo problema atual. Outros fascismos estão sendo preparados para nós. Todo um neofascismo se instala, com relação ao qual o antigo fascismo faz figura de folclore. Em vez de ser uma política e uma economia de guerra, o neofascismo é uma entente mundial pela segurança, pela gestão de uma ‘paz’ não menos terrível”.
O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (ADPIC) [1] da Organização Mundial do Comércio (OMC) introduziu importantes mudanças nas normas internacionais sobre os direitos de propriedade intelectual. Devido a suas vastas implicações, ele se converteu em um dos componentes mais controvertidos do sistema da OMC. Durante a Rodada do Uruguai, surgiram discordâncias sobre seu alcance e conteúdo não só entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, como também entre os próprios países desenvolvidos [2].
Boa parte das divergências tem girado em torno dos produtos farmacêuticos. A crise da Aids na África e as evidentes implicações negativas das patentes sobre acesso aos medicamentos estabeleceram de forma dramática a necessidade de clarificar a relação entre os ADPIC e a saúde pública. Considerando que mais de 30 milhões de pessoas convivem com a Aids, em sua grande maioria nas regiões mais pobres do mundo, a necessidade de enfrentar o problema de acesso a medicamentos patenteados surgiu como uma prioridade global. Ainda que fatores como a infra-estrutura sanitária e o suporte de pessoal profissional desempenhem um papel importante na disponibilização de tratamentos, os preços resultantes da existência de patentes determinam, em última instância, quantos morrerão em decorrência da Aids ou de outras doenças nos próximos anos.
Os argumentos apresentados acerca das implicações do Acordo sobre os ADPIC na saúde pública se refletiram na adoção, por iniciativa dos países em desenvolvimento, da Declaração de Doha relativa ao Acordo sobre os ADPIC e a Saúde Pública [3] na Quarta Conferência Ministerial da OMC (de 9 a 14 de novembro de 2001). A Declaração de Doha admite a “gravidade” dos problemas de saúde pública que afligem os países pobres e os países em desenvolvimento, especialmente os decorrentes da Aids, da tuberculose, da malária e outras epidemias, mas sem se limitar apenas a esses. E reflete as preocupações desses países com as implicações do Acordo sobre os ADPIC em relação à saúde pública em geral, sem se restringir a determinadas doenças. Ainda que reconheça o papel da proteção à propriedade intelectual “para o desenvolvimento de novos medicamentos”, a Declaração se preocupa especificamente com seus efeitos sobre os preços e reafirma que o Acordo sobre os ADPIC não impede, nem deveria impedir, que os membros da OMC tomem medidas para proteger a saúde pública, tais como a concessão de licenças obrigatórias [4].
No parágrafo 6, a Declaração de Doha instrui o Conselho dos ADPIC a abordar uma questão delicada: de que modo países membros cujas capacidades de fabricação no setor farmacêutico são insuficientes ou inexistentes podem fazer uso efetivo das licenças obrigatórias? O problema básico, subjacente a esse parágrafo, está nas limitações sofridas por vários países em desenvolvimento para fabricar seus próprios medicamentos. Não são muitos os países capazes de produzir ingredientes ativos e formulações. Que opções eles têm se o titular de uma patente se nega a lhes vender um medicamento a preços acessíveis e impede, além do mais, que o medicamento seja comprado em outros países onde pode ser fabricado e obtido a um preço inferior?
Até janeiro de 2005, alguns países, como a Índia, não aceitavam patentes sobre produtos farmacêuticos e podiam fabricar produtos genéricos por uma fração do preço do produto patenteado. O problema é que, uma vez que todos os países da OMC estão obrigados a respeitar integralmente o Acordo sobre os ADPIC, não é possível para esses países produzir e exportar versões “genéricas” de medicamentos patenteados a preços mais baixos. Conseqüentemente, os países com capacidade insuficiente de fabricação, que não podem usar uma licença obrigatória para a produção local, tampouco poderiam importar os medicamentos que necessitam de outros países (também sujeitos a patentes). Esses países ficam em uma situação de total dependência dos donos das patentes e de suas decisões sobre aumentos de preços.
A Declaração de Doha instruiu o Conselho dos ADPIC a encontrar uma solução imediata para o problema. Contudo, o acordo chegou apenas em 30 de agosto de 2003 [5], ao fim de uma batalha diplomática em que os Estados Unidos acabaram por concordar com um texto que cobria todas as doenças, respeitando a determinação da Declaração [6]. A “solução” combinada se baseou em um compromisso pautado numa “Declaração do Presidente” [7], exigida pelos Estados Unidos como condição para satisfazer a indústria farmacêutica de seu país.
A Decisão estabelece um complexo mecanismo pelo qual se permite importar um medicamento de um país onde existe patente, sob a condição de que se conceda uma licença obrigatória no país de exportação e outra no de importação, se o medicamento também estiver patenteado ali. Para os fins da Decisão, um “membro importador habilitado” significa qualquer país membro menos desenvolvido e qualquer outro membro que o tenha notificado ao Conselho dos ADPIC sobre sua intenção de usar o sistema como importador. Alguns países informaram que só recorreriam ao sistema em caso de emergência nacional, situações críticas ou utilização pública não comercial e que não adotarão o sistema em nenhum outro caso. É necessário que o país importador faça uma notificação ao Conselho dos ADPIC indicando seu interesse em utilizar o mecanismo. Após quatro anos de adoção da Decisão, só um país (Ruanda) realizou essa notificação.
Além do mais, a licença obrigatória expedida pelo membro exportador deve conter uma série de condições: em particular, só poderá ser fabricada e exportada sob licença a quantidade necessária para satisfazer as necessidades do membro ou dos membros importadores habilitados, e os produtos serão identificados claramente, mediante rótulo ou marca visível específica, como produzidos em virtude do sistema da Decisão. Além do mais, devem se diferenciar mediante uma embalagem e/ou cor ou forma especiais, sempre que seja factível e não acarrete reflexo significativo no preço.
Quando um membro exportador conceder uma licença obrigatória, será pago ao titular da patente uma remuneração adequada, conforme o Artigo 31.h do Acordo sobre os ADPIC, considerando-se o valor econômico da autorização para o país importador. Neste, nenhum direito de utilização deverá ser pago.
Uma das principais preocupações demonstradas pelos países desenvolvidos durante a negociação da Decisão foi o possível desvio dos produtos exportados para os países ricos. Porém, esse risco foi superdimensionado. O comércio de medicamentos está sujeito a regulamentações nacionais estritas, com barreiras efetivas ao acesso do mercado. Segundo observou a própria Comissão Européia, “a indústria reconhece que até a presente data não houve reimportação de medicamentos dos países em desenvolvimento mais pobres para a União Européia, ou seja, o problema da reimportação ainda é amplamente teórico” [8]. A Decisão estabelece, no entanto, que os membros importadores habilitados tomarão todas as medidas razoáveis a seu alcance, proporcionais a sua capacidade administrativa e ao risco de desvio comercial, para impedir a reexportação de produtos que tenham sido importados para seu território em virtude do sistema. Além do mais, os membros terão de garantir a existência de meios legais eficazes para impedir a importação e a venda, dentro de seus territórios, de produtos fabricados em conformidade com o sistema estabelecido na Decisão e desviados para seus mercados contrariando a Decisão, e para isso utilizarão os meios cuja disponibilidade já é requerida em função do Acordo sobre os ADPIC. Se um membro considerar que essas medidas de mostraram insuficientes, o problema voltará a ser tratado no Conselho dos ADPIC, a seu pedido.
A Decisão toma a forma de uma isenção temporária, permitindo que os países fabricantes de produtos patenteados sob licença obrigatória exportem para os países importadores habilitados, sempre que estes tenham obtido também licença obrigatória e cumpram as demais condições supramencionadas. A isenção durará até que entre em vigor a emenda do Acordo sobre os ADPIC. Em dezembro de 2005, os membros da OMC concordaram em introduzir o texto da Decisão como um novo artigo (31b) do Acordo sobre os ADPIC e estabeleceram um prazo até 1º de janeiro de 2007 para a ratificação da emenda. Esse prazo teve de ser prorrogado por mais dois anos, devido ao número muito baixo de ratificações recebidas (apenas onze de 151 países membros).
É importante observar que o sistema previsto na Decisão operará em um cenário compreendendo apenas um provedor monopolista de um medicamento, sem que existam, para tanto, fontes disponíveis de produtos genéricos. Será necessário recorrer a esse sistema quando o titular da patente se negar a fornecer um medicamento patenteado a um país (com pouca ou nenhuma capacidade de fabricação no setor farmacêutico) com preço e outras condições aceitáveis para o interessado. O pressuposto básico para a aplicação do sistema é, portanto, uma situação em que: (a) o medicamento está disponível e pode ser vendido ao país que o necessita pelo titular da patente, mas (b) este se nega a fazê-lo.
Isso significa que, independentemente dos motivos humanitários subjacentes para a demanda do país por determinado medicamento, nada no sistema adotado obrigará o titular da patente a fornecê-lo. Ele pode se limitar a observar passivamente os esforços realizados pelo país necessitado para cumprir as condições impostas pela Decisão, enquanto os doentes permanecem sem tratamento. Ou então pode facilitar o processo, conferindo-lhe uma licença voluntária para um exportador potencial. Outra possibilidade é que ele explore as dificuldades e complexidades do sistema legal e exerça os direitos previstos na leis nacionais pertinentes, para impedir o uso não autorizado de sua patente.
A implementação efetiva da Decisão dependerá do grau de consentimento das leis nacionais para os atos que ela autoriza, especificamente, a possibilidade de conceder uma licença obrigatória para importar ou exportar um medicamento patenteado ou seus princípios ativos, conforme o caso. Nada na Decisão impede os países desenvolvidos de atuar como exportadores de medicamentos obedecendo o sistema.
Contudo, a maioria dos observadores espera que os grandes produtores genéricos no mundo em desenvolvimento (Índia, China, Brasil, Tailândia e África do Sul) assumam a produção e a exportação desses medicamentos [9]. Sem dúvida esse papel também pode ser desempenhado pela Argentina, cujas exportações de medicamentos cresceram a um ritmo elevado nos últimos cinco anos, não só dentro da América Latina como também para países da África e da Ásia.
Até a presente data, apenas Canadá, Holanda, Noruega, a União Européia, Índia e China adotaram disposições para permitir a exportação de medicamentos ou princípios ativos segundo a Decisão [10].
O uso efetivo de uma licença obrigatória, tanto no país importador como no exportador, também dependerá dos procedimentos aplicáveis. Em alguns países, um recurso de apelação do titular da patente contra a concessão de uma licença obrigatória não suspende sua execução imediata (artigo 49 da Lei de Patentes argentina, n.º 24.481, modificada). Em outros países, o titular da patente pode, em troca, apresentar um recurso e suspender a importação ou exportação prevista na licença obrigatória até ser proferida uma decisão administrativa ou judicial definitiva, que pode levar anos.
Conseqüentemente, a lei nacional de patentes deverá ser modificada conforme for necessário a fim de que o uso de licenças obrigatórias para importação e exportação gere um mecanismo efetivo que atenda às necessidades da saúde pública.
Os passos que devem ser seguidos para a obtenção do fornecimento de medicamentos conforme a Decisão são os seguintes [11]:
1.A menos que o requisito de uma solicitação prévia de licença voluntária não se aplique [12], uma entidade no país importador deve requerer uma licença voluntária ao titular da patente.
2. Se isso não der resultado, deve ser apresentada ao governo do país importador uma solicitação de licença obrigatória e nele se obter uma licença (a menos que não haja patente vigorando no país).
3. O país importador deve avaliar a capacidade de sua indústria de produzir localmente o medicamento necessário.
4. Se a capacidade é insuficiente, deve notificar a OMC sobre sua decisão de recorrer ao sistema do parágrafo 6.
5. A parte importadora interessada deve identificar um potencial exportador.
6. Esse membro exportador deve, por sua vez, pedir uma licença voluntária ao titular da patente, em termos comercialmente razoáveis, por um período de tempo comercialmente razoável.
7. Se a licença voluntária for negada, o exportador potencial deverá solicitar uma licença obrigatória junto a seu próprio governo (a ser concedida para um único fornecimento).
8. O exportador deverá solicitar o registro do produto e provar a bioequivalência e a biodisponibilidade, segundo as exigências da lei nacional.
9. Se direitos exclusivos sobre os dados de prova apresentados para o registro do medicamento foram concedidos no país de importação [13], o provedor terá ainda de obter a autorização de quem possui tais dados, ou desenvolver seus próprios estudos sobre segurança e eficácia (a não ser que o uso desses dados esteja autorizado como parte da licença obrigatória).
10. Antes de se iniciar o envio, o titular da licença anunciará em seu site na internet as quantidades fornecidas e as características distintivas do produto.
11. O exportador deve notificar ao Conselho dos ADPIC sobre a concessão da licença, incluídas as condições estabelecidas.
Para que a solução do problema descrito no parágrafo 6 da Declaração de Doha seja efetiva, ela deve ser economicamente exeqüível, e não só diplomaticamente aceitável. Uma questão básica é se a Decisão cria incentivos suficientes para que os provedores potenciais realizem as inversões necessárias assumindo os riscos associados a elas. Ao produzir o medicamento pela primeira vez, o potencial exportador deverá, além de seguir os procedimentos legais para solicitar uma licença obrigatória e a aprovação de comercialização do produto, obter o ingrediente ativo e desenvolver a formulação respectiva, apresentando um produto diferenciado em termos de aparência, cor, embalagem e rótulo em relação ao produto do titular da patente. Tudo isso a um preço mais baixo, acessível àquele que o adquire.
A Decisão reconhece que a exeqüibilidade da “solução” depende muito da existência de uma economia de escala para justificar a produção. Entretanto, de acordo com a Decisão, essa economia de escala só é considerada nos casos em que o país importador integra algum pacto comercial regional em que, no mínimo, a metade dos membros corresponda a países menos desenvolvidos. Conseqüentemente, essa exceção só se aplicará a alguns acordos estabelecidos em regiões da África, mas não em outras partes [14], limitando assim o efeito que poderia ter sido obtido sobre a economia de escala.
Apesar das óbvias limitações e das muitas restrições impostas pela Decisão examinada, os países que necessitam adquirir medicamentos patenteados e não têm capacidade de fabricação local não terão outra opção senão provar a viabilidade do sistema previsto na Decisão, que parece apoiar-se no pressuposto de que o dono de uma patente goza de legitimidade para impedir o acesso a produtos sob seu controle, inclusive diante de causas humanitárias prementes.
Decerto isso não contradiz a Declaração de Doha (em particular o parágrafo 4). Tampouco corresponde aos compromissos assumidos pelos Estados no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em particular o artigo 12 (que reconhece o “direito de toda pessoa a desfrutar do mais elevado nível de saúde física e mental” e exige que se tomem medidas para assegurar plenamente esse direito, inclusive “a prevenção, o tratamento e o controle de doenças epidérmicas, endêmicas, do trabalho e outras”).
Sem ignorar as limitações do sistema estabelecido pela Decisão e, particularmente, que teria sido possível elaborar mecanismos mais simples e eficientes, resta agora aos países a tarefa de adaptar suas legislações para atuar como importadores ou exportadores de medicamentos ou princípios ativos sujeitos a patente, sem o consentimento de seu titular. Ao fazê-lo, convém lembrar que o parágrafo 6 da Declaração de Doha e a Decisão comentada só prevêem um dos mecanismos passíveis de serem aplicados. A Decisão não impede a utilização de outros meios quando o titular da respectiva patente (ou patentes) se recusa a fornecer um medicamento necessário a custos razoáveis. Os países devem desenvolver métodos para tratar essas recusas, por exemplo, no contexto da doutrina das “facilidades essenciais” [15], ou outros conceitos provenientes do direito de competência.
A proteção da propriedade intelectual de produtos farmacêuticos continuará apresentando significativos desafios para as políticas de saúde pública dos países em desenvolvimento, mesmo quando a “solução” arquitetada pela Decisão se mostrar exeqüível e eficaz, já que não põe fim às controvérsias sobre a propriedade intelectual e a saúde pública. Estas continuarão, especialmente na medida em que os países desenvolvidos continuarem em busca de uma proteção ADPIC extra, mediante a pressão política ou comercial, ou a negociação de acordos bilaterais e regionais [16]. A própria adoção da Decisão mostra, por fim, que contar com uma indústria farmacêutica local capaz de produzir os medicamentos necessários para atender à saúde passou a ser uma questão estratégica, e não um simples objetivo de política industrial.
[1] O acordo sobre os ADPIC prevê normas mínimas para a proteção de patentes, marcas comerciais, direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual. O texto completo
[2] Ver, por exemplo, Brigitte Granville (ed.), The Economics of Essential Medicines, The Royal Institute of International Affairs, Londres, 2002; e Peter Drahos e Ruth Maybe (ed.), Global Intellectual Property Rights. Knowledge, Access and Development, Palgrave Macmillan-Osfam, Nova York, 2002.
[3] Doravante referida como “Declaração de Doha”. WT/MIN(01)/DEC/W/2, 14 de novembro de 2001.
[4] Uma “licença obrigatória” é aquela que é concedida por uma autoridade judicial ou administrativa a um terceiro para uso de uma invenção patenteada, sem o consentimento do titular da patente, baseada em diversos motivos de interesse geral (por exemplo: ausência de exploração, saúde pública, práticas anticompetitivas, emergências, defesa nacional).
[5] IP/C/W/405 (daqui por diante denominada “Decisão”).
[6] Inicialmente, os Estados Unidos pretendiam restringir a solução à Aids, à malária e à tuberculose.
[7] Texto do presidente do Conselho dos ADPIC, 16 de dezembro de 2002 (JOB(02)/217). Ver.
[8] Comissão Européia (DGTrade, 2002), “Tiered pricing for medicines exported to developing countries, measures to prevent their re-imporatation into de EC market and tariffs in developing countries”, Documento de Trabalho, Bruxelas, 22 de abril de 2002, p. 10.
[9] K. Maskus, “ADPIC, drug patents and access to medicines-balancing incentives for R&D with public health concerns”, Knowldege Economy Development Gateway, 2003.
[10] O governo suíço também anunciou uma reforma da lei de patentes com o mesmo fim.
[11] Brook K. Baker, “Vows of poverty, shrunken markets, burdensome manufacturing and other nonsense at the WTO”, Health GAP, 27 de agosto de 2003.
[12] Este seria o caso de licenças solicitadas para abordar situações de extrema urgência, práticas anticompetitivas ou utilização pública não comercial (parágrafos 31.f e 31.k do Acordo sobre os ADPIC).
[13] Por exemplo, Carlos Correa, Protection of data submitted for the registration of pharmaceutical products. Implementing the standards of the ADPIC agreement, South Centre, Genebra, 2002.
[14] Por exemplo, o Mercosul e a Comunidade Andina não se enquadram na Decisão como um mercado único para tais fins.
[15] John Taladay e James Carlin Jr., “Compulsory licensing of intellectual property under the competition laws of the United States and European Community”, George Mason Law Review, Arlington (Virginia), vol. 10, n.º 3, primavera boreal de 2002, p. 443.
[16] Por exemplo, os recentes acordos bilaterais dos Estados Unidos com o Chile, países centro-americanos e República Dominicana (CAFTA-RD), Peru, Panamá, Marrocos, Coréia do Sul, Singapura etc.
Uma companhia de petróleo tem, naturalmente, todas as razões para rastrear as actividades dos seus competidores, as quais podem ter significado comercial. Outrora, nos Estados Unidos, elas costumavam contratar pessoas conhecidas como "scouts" a fim de manter as sondas (rigs) sob observação, por vezes com binóculos. Eles podiam, por exemplo, contar os bocados de tubagem que estavam a ser removidos para avaliar a profundidade do furo. Também podiam vagabundear pelos bares e conversar com perfuradores diante de uma cerveja. No princípio da exploração do Mar do Norte, algumas companhias de petróleo colocaram observadores em traineiras para observar sondas e se possível ouvir rádio comunicações, nas melhores tradições das patrulhas.
Isto mais ou menos significa o que hoje seria chamada espionagem industrial.
Um geólogo americano chamado Harry Wassall trabalhou para a Gulf Oil e foi transferido para Cuba na década de 1950, onde casou-se com uma bela senhora cubana chamada Gladys. Quando a Gulf Oil chamou-o de volta, ele preferiu permanecer em Cuba, e fundou um pequeno boletim para informar acerca de actividades petrolíferas na ilha, expandindo posteriormente a sua cobertura à América Latina. Ele designou um agente em cada país para informar acerca de desenvolvimentos com o petróleo, incluindo a localização de novos poços pioneiros (wildcats) e os resultados. Grande parte disto não constituía informação particularmente confidencial.
Quando Fidel Castro chegou ao poder, ele já não podia dirigir este negócio a partir de Cuba e mudou-se para a Espanha, abrindo um escritório em Genebra a fim de expandir a cobertura a todo o mundo, denominando-o Petroconsultants. Ao logo dos anos ele construiu uma rede de contactos, muitas vezes incluindo antigos homens do petróleo com conhecimento e experiência de um país particular, que permitiu construir a base de dados com continuidade e fiabilidade.
As principais companhias de petróleo apoiavam informalmente o esforço pois preferiam não falar directamente umas com as outras, mas queriam saber o que cada uma delas estava a fazer. Elas queriam boa informação e também a davam. Naqueles dias isto não era um assunto particularmente sensível. Além disso a Petroconsultantes foi uma das primeiras a utilizar computadores para a base de dados e, durante algum tempo, as grandes companhias de petróleo consideraram conveniente sub-contratar as suas próprias bases de dados a fim de serem administradas em Genebra numa base confidencial.
A companhia envelheceu juntamente com o seu proprietário e tornou-se uma encantadora organização à moda antiga recheada de antigos homens do petróleo que haviam construído relacionamentos a longo prazo, e tinham o conhecimento e experiência para reunir e validar informação.
Harry Wassall ganhou interesse na questão do Pico Petrolífero, vendo o seu significado mais vasto. A Petroconsultants leu o meu primeiro livro, The Golden Century of Oil, o qual cotinha muitos erros porque nessa altura eu ainda não havia avaliado quão inconfiáveis eram os dados públicos. A empresa convidou-me a efectuar um estudo semelhante mais baseado nas suas bases de dados e eu foi coadjuvado por Jean Laherrere, que se havia reformado da Total. Fizemos um grande estudo baseado na informação abrangente que nos fora disponibilizada. O resultado acabou por se suprimido sob a pressão de uma companhia de petróleo, mas a Petroconsultants co-publicou o meu segundo livro, The Coming Oil Crisis, e também estimulou Jean e eu a escrever o artigo "The End of Cheap Oil", publicado em 1998 na Scientific American.
Harry Wassal morreu em Novembro de 1995 e a Petroconsultants foi vendida à IHS, que era uma companhia americana de bases de dados, fundada penso eu por um membro da família Krupp da Alemanha, que não tinha qualquer perícia particular em petróleo.
O escritório de Genebra foi então colocado numa base muito mais comercial, e a maior parte da antiga equipe deixou-o, levando consigo os seus anos de continuidade, amizade, relacionamento especial e longa experiência.
Consequentemente, tornou-se muito mais difícil reunir informação válida, e a tarefa tornou-se muito mais difícil porque as principais companhias petrolíferas já não dominavam o negócio devido ao crescimento de companhias estatais e de muitas pequenas companhias promocionais. Em muitos casos não era possível fazer mais do que assegurar informação pública, parcialmente a partir da Internet, e tentar compilá-la tão bem quanto possível.
O CERA era uma consultora de petróleo, dirigida por Daniel Yergin, que é bem conhecido pelo seu excelente livro, The Prize, o qual descreve a história da indústria petrolífera. Ele próprio não tem experiência na indústria do petróleo, mas a companhia naturalmente podia aconselhar sobre desenvolvimentos petrolíferos e garantir consultorias sem tem qualquer particular conhecimento pormenorizando das reservas de campos específicos ou de países. O CERA por sua vez por adquirido pela IHS, e agora tem acesso à sua base de dados, no que ela tem de valioso. Como consultora, o CERA naturalmente tem todas as boas razões para tentar agradar aos seus clientes e evitar questões polémicas.
Assim, no que se refere ao estudo do Pico Petrolífero, a melhor abordagem é retornar à base de dados primitiva da Petroconsultants como ponto de partida, e rastrear as mudanças, revisões e acréscimos subsequentes, descontando quaisquer anomalias e inconsistências. Apesar das dificuldades que tornam virtualmente impossível assegurar informação abrangente, é factível determinar e rastrear os padrões gerais de esgotamento.
Quando o mundo lá fora pensa acerca da Austrália volta-se geralmente para respeitáveis clichés de inocência – cricket, marsupiais saltadores, brilho do sol infindável, nada de preocupações. O governo australiano encoraja isto activamente. Testemunho disso é a recente campanha “G'Day USA”, na qual Kylie Minogue e Nicole Kidman procuraram persuadir os americanos de que, ao contrário dos problemáticos postos avançados do império, uma saudação parola aguardava-os na Austrália. Afinal de contas, George W. Bush havia ordenado o anterior primeiro-ministro da Austrália, John Howard, como "sheriff da Ásia".
Que a Austrália administra o seu próprio império não é uma questão mencionável; mas isto depreende-se desde os bairros de lata de aborígenes em Sidney até as antigas terras interiores do continente e ao longo do Mar de Arafura e do Pacífico Sul. Quando o novo primeiro-ministro, Kevin Rudd, desculpou-se junto ao povo aborígene em 13 de Fevereiro, reconheceu isto. Quanto ao próprio pedido de desculpas, o Sydney Morning Herald descreveu-o com exactidão como uma "peça de ruína politica" que "o governo Rudd movimentou rapidamente para limpar o caminho... de um modo que corresponde a algumas das necessidades emocionais dos seus apoiantes, mas nada de mudanças. Trata-se de uma manobra perspicaz.
Tal como a conquista dos nativos americanos, a dizimação dos aborígenes australianos lançou a fundação do império da Austrália. A terra foi tomada e grande parte do seu povo foi removido e empobrecido ou eliminado. Para os seus descendentes, não atingidos pelo tsunami de sentimentalidade que acompanhou as desculpas de Rudd, pouco mudou. Na grande expansão no território do norte, conhecida como Utopia, o povo vive sem esgotos, água corrente, colecta de lixo, habitação decente e saúde decente. Isto é típico. Na comunidade de Mulga Bore, os fontanários de água na escola aborígene secaram e a única água que resta esta contaminada.
Por toda a Austrália dos aborígenes as epidemias de gastroenterite e febre reumática são tão comuns como haviam sido nos bairros pobres da Inglaterra do século XIX. A saúde dos aborígenes, afirma a Organização Mundial de Saúde, está atrasada em quase uma centena de anos em relação à da Austrália branca. Este é o único país desenvolvido numa "lista da vergonha" feita pelas Nações Unidas de países que não erradicaram a tracoma, uma doença totalmente prevenível que cega crianças aborígenes. O Sri Lanka eliminou a doença, mas não a rica Austrália. Em 25 de Fevereiro, um inquérito policial às mortes na periferia de cidades de 22 aborígenes, alguns dos quais enforcaram-se a si próprios, descobriu que eles estavam a tentar escapar das suas "vidas pavorosas".
A maior parte dos australianos brancos raramente vêem este terceiro mundo no seu próprio país. O que eles chamam aqui "intelectuais públicos" prefere discutir sobre se o passado aconteceu, e culpar as vítimas dos dias presentes pelos seus horrores. A sua lenga-lenga de que os gastos com a infraestrutura e o bem estar aborígene constituem "um buraco negro para o dinheiro público" é racista, falso e covarde. As centenas de milhões de dólares que os governos australianos afirmam terem gasto nunca foram gastos, ou acabaram em projectos para pessoas brancas. Estima-se que a acção legal montada por interesses brancos, incluindo governos federal e estaduais, contestando títulos de posse de nativos só por si cobre vários milhares de milhões de dólares.
A calúnia é habitualmente utilizada como uma ferramenta de distracção. Em 2006, o principal programa de assuntos correntes da Australian Broadcasting Corporation, o Lateline, difundiu fantástica alegações de "escravidão sexual" entre o povo aborígene Mutitjulu. A fonte, descrita como um "jovem trabalhador anónimo", revelou-se ser um responsável do governo federal, cuja "prova" foi desacreditada pelo ministro chefe e polícia do Northern Territory. O Lateline nunca se retractou das suas alegações. Dentro de um ano o primeiro-ministro John Howard declarou uma "emergência nacional" e enviou o exército, política e "administradores de negócios" às comunidades aborígenes no Território do Norte. Foi mencionado um estudo encomendado sobre crianças aborígenes, e "proteger as crianças" tornou-se o clamor dos media – da mesma forma como há mais de uma centena de anos atrás quando crianças foram raptadas pelas autoridades brancas responsáveis pelo bem estar. Um dos autores do estudo, Pat Anderson, queixou-se: "Não há relacionamento entre os poderes de emergência e o que está no nosso relatório". Sua investigação concentrara-se sobre os efeitos da habitação em bairros de lata sobre as crianças. Poucos o ouviram. Kevin Rudd, um líder da oposição, apoiou a "intervenção" e tem apoiado o primeiro-ministro. Os pagamentos das ajudas são mantidos sob quarentena e certas pessoas controlam-nos e comportam-se do modo colonial. Para justificar, a maior parte da imprensa da capital, de propriedade de Murdoch, tem publicado incansavelmente um quadro uni-dimensional da degradação aborígene. Ninguém nega que existam o alcoolismo e o abuso de crianças, tal como acontece na Austrália branca, mas aí não existe qualquer quarentena existe.
O Northern Territory é onde o povo aborígene tem tido direitos à terra mais perduráveis do que em qualquer outra parte, concedidos quase por acidente 30 anos atrás. O governo Howard dedicou-se a reduzi-los. O território contem extraordinárias riquezas mineiras, incluindo enormes depósitos de urânio nas terras aborígenes. O número de companhias licenciadas para explorar o urânio duplicou para 80. A Kellogg Brown & Root, uma subsidária do gigante americano Halliburton, contruiu a ferrovia de Adelaide para Darwin, a qual corre junto à Olympic Dam, a maior mina de urânio de baixo teor do mundo. No ano passado, o governo Howard apropriou-se de terra aborígene próxima a Tennant Creek, onde pretende armazenar os resíduos radioactivos. "A tomada de terras tribais aborígenes nada tem a ver com abusos sexuais de crianças", afirma a internacionalmente reconhecida cientista e activista australiana Helen Caldicotte, "mas tudo a ver com a mineração de urânio e a conversão do Território do Norte num depósito de lixo nuclear global".
O PETRÓLEO DE TIMOR 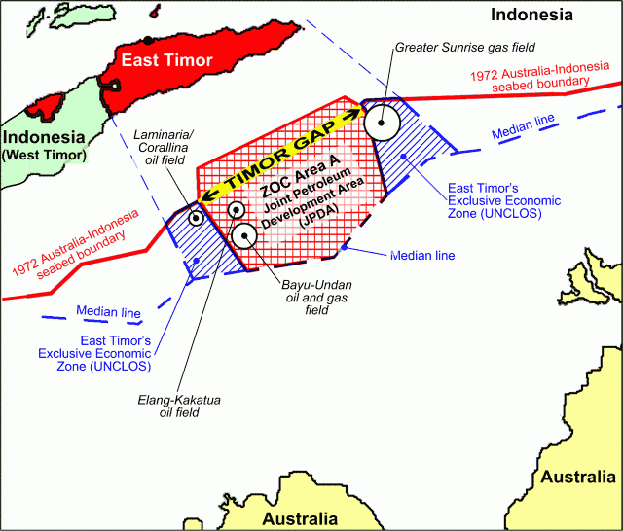 Este extremo final das fronteiras da Austrália bordeja os Mares de Arafura e de Timor, ao longo do arquipélago indonésio. Uma das maiores reservas submarinas de petróleo e gás está no Timor Leste. Em 1975, o então embaixador da Austrália em Djacarta, Richard Woolcott, que fora prevenido acerca da invasão indonésia do então português Timor Leste, recomendou secretamente a Canberra que a Austrália fechasse os olhos a isto, observando que as riquezas do fundo do mar "podiam ser muito mais prontamente negociadas com a Indonésia... do que com [um independente] Timor". Gareth Evans, mais tarde ministro dos Negócios Estrangeiros, descreveu um prévio que valia "ziliões de dólares". Ele assegurou que a Austrália se tivesse distinguido como um dos poucos países a reconhecer a sangrenta ocupação do general Suharto, na qual 200 mil timorenses perderam as suas vidas.
Este extremo final das fronteiras da Austrália bordeja os Mares de Arafura e de Timor, ao longo do arquipélago indonésio. Uma das maiores reservas submarinas de petróleo e gás está no Timor Leste. Em 1975, o então embaixador da Austrália em Djacarta, Richard Woolcott, que fora prevenido acerca da invasão indonésia do então português Timor Leste, recomendou secretamente a Canberra que a Austrália fechasse os olhos a isto, observando que as riquezas do fundo do mar "podiam ser muito mais prontamente negociadas com a Indonésia... do que com [um independente] Timor". Gareth Evans, mais tarde ministro dos Negócios Estrangeiros, descreveu um prévio que valia "ziliões de dólares". Ele assegurou que a Austrália se tivesse distinguido como um dos poucos países a reconhecer a sangrenta ocupação do general Suharto, na qual 200 mil timorenses perderam as suas vidas.
Quando finalmente, em 1999, Timor Leste conquistou a sua independência, o governo Howard passou a manobrar o timorenses a fim de retirar-lhes a sua fatia do rendimento do petróleo e do gás através de mudanças unilaterais da fronteira marítima e retirando da jurisdição do Tribunal Mundial de disputas marítimas. Este teria negado aquele rendimento desesperadamente necessário ao novo país, assolado por anos de ocupação brutal. Contudo, o então primeiro-ministro Mari Alkatiri, líder do partido maioritário Fretilin, demonstrou estar à altura de Canberra e especialmente do seu ameaçador ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Downer.
Alkatiri demonstrou ser um nacionalista que acreditava que a riqueza de recursos de Timor Leste deveria ser propriedade do Estado, de modo a que o país não caísse em dívidas para com o Banco Mundial. Ele também acreditava que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades dos homens, e que os cuidados de saúde e a educação deveriam ser universais. "Sou contra homens ricos a banquetearem por trás de portas fechadas", disse ele. Por esta razão foi caricaturado como comunista pelos seus oponentes, nomeadamente o presidente Xanana Gusmão e o então ministro das Relações Exteriores, José Ramos Horta, ambos próximos ao establishment político australiano. Quando um grupo de soldados descontentes rebelou-se contra o governo de Alkatiri em 2006, a Austrália prontamente aceitou um "convite" para enviar tropas para Timor Leste. "A Austrália", escreveu Paul Kelly no Australian de Murdoch, "está a operar como uma potência regional ou um potencial hegemonista que molda os resultados securitários e políticos. Esta linguagem é desagradável para muitos. Mas é a realidade. É uma novidade, um território experimental para a Austrália.
Uma feroz campanha contra o "corrupto" Alkatiri foi montada nos media australianos, que lembrava o golpe através do media que momentaneamente derrubou Hugo Chávez na Venezuela. Assim como os soldados americanos que ignoraram os saqueadores nas ruas de Bagdad, os soldados australianos ficaram de lado enquanto desordeiros armados aterrorizavam o povo, queimavam suas casas e atacavam igrejas. O líder rebelde, Alfredo Reinado, um assassino criminoso treinado na Austrália, foi elevado a herói folclorico. Sob tal pressão, o democraticamente eleito Alkatiri foi forçado a sair do gabinete e Timor Leste foi declarado um "Estado falido" pela legião de académicos da segurança e papagaios jornalísticos da Austrália preocupados com o "arco de instabilidade" ao norte, uma instabilidade que eles apoiaram enquanto o genocida Suharto foi o responsável.
Paradoxalmente, em 11 de Fevereiro, Ramos Horta e Gusmão tiveram um dissabor quando tentaram negociar com Reinado a fim de submetê-lo. Os seus rebeldes voltaram-se contra ambos, deixando Ramos Horta gravemente ferido e o próprio Reinado morto. A partir de Canberra, o primeiro-ministro Rudd anunciou o envio de mais "pacificadores" australianos. Na mesma semana, o Programa Alimentar Mundial revelou que as crianças do Timor Leste rico de recursos estavam lentamente a morrer de fome, com mais de 42 por cento daquelas abaixo dos cinco anos com problemas sérios de falta de peso — uma estatística que corresponde àquela das crianças aborígenes nas comunidades "fracassadas" que também ocupam recursos naturais abundantes.
A Austrália entrou nas Ilhas Salomão e na Papua Nova Guiné, onde as suas tropas e a sua polícia federal tem tratado de "transtornos da lei e da ordem" que estão "a privar a Austrália de negócios e oportunidades de investimento". Um antigo oficial de inteligência australiano chama isto de "sociedades selvagens para as quais a intervenção representa uma grossa agulha de injecção, mas que é um instrumento necessário". A Austrália também está entrincheirada no Afeganistão e no Iraque. A promessa eleitoral de Rudd de retirar o país da "coligação de vontade" não incluía quase a metade das tropas australianas no Iraque.
Na conferência do ano passado do American-Australian Leadership Dialogue – um evento anual concebido para unir as políticas externas dos dois países, mas na realidade uma oportunidade para a elite australiana exprimir o seu servilismo histórico perante a grande potência – Rudd estava num estilo inabitualmente retórico: "É tempo de cantarmos dos telhados do mundo", disse ele, "[que] apesar do Iraque a América é uma esmagadoramente uma força para o bem do mundo... Estou ansioso por mais do que trabalhar com a grande democracia americana, o arsenal da liberdade, em produzir mudanças a longo prazo para o planeta".
Falou o novo sheriff da Ásia.
 "As condições do mercado são as piores que qualquer pessoa nesta indústria possa recordar. Não creio que alguém tenha lembrança de um desaparecimento total de liquidez... Há activos no valor de milhares de milhões de dólares para os quais simplesmente não há mercado". Alain Grisay, executivo chefe do F&C Asset Management Plc, com sede em Londres; Bloomberg News
"As condições do mercado são as piores que qualquer pessoa nesta indústria possa recordar. Não creio que alguém tenha lembrança de um desaparecimento total de liquidez... Há activos no valor de milhares de milhões de dólares para os quais simplesmente não há mercado". Alain Grisay, executivo chefe do F&C Asset Management Plc, com sede em Londres; Bloomberg News
O furacão começado com as hipotecas subprime tem assolado os mercados de crédito, levando a destruição a títulos municipais, hedge funds, investimentos estruturados complexos e agências de dívida (Fannie Mae). Agora as primeiras rajadas da ventania com Força 5 estão a atingir a economia real onde se aguardam danos generalizados. O Departamento do Trabalho informou sexta-feira que em Fevereiro os empregadores cortaram 63 mil empregos, o maior declínio mensal em cinco anos. O corte nas folhas de pagamento soma-se aos 22 mil empregos que foram perdidos em Janeiro. Desde Setembro de 2006 foram eliminados 52 mil empregos no sector manufactureiro, ao passo que 331 mil foram perdidos na construção.
O Departamento do Trabalho também informou na quarta-feira que a produtividade por trabalhador reduziu-se significativamente no último trimestre de 2007. Quando a produtividade está baixa, os custos do trabalho aumentam o que agrava pressões inflacionárias. Isto torna mais difícil para o Fed reduzir taxas a fim de estimular a economia sem provocar a temida "estagflação" — crescimento lento e ascensão dos preços.
As notícias acerca da construção comercial são igualmente negras. O Wall Street Journal relata:
"Pelo segundo mês seguido, o Departamento do Comércio relatou um declínio nos gastos com a construção não residencial — a qual inclui tudo, desde hospitais a parques de escritórios e centros comerciais... Os sinais de perturbação surgiram no fim do ano. Como os mercados de crédito endureceram, o espaço para escritórios vendido no quarto trimestre caiu 42 por cento em relação ao ano anterior, e as vendas de grandes propriedades a retalho declinaram 31 por cento, diz a Real Capital Analytics, um grupo de investigação imobiliária de Nova York... Se os gastos continuarem a arrefecer, os trabalhadores da construção, que estão a cambalear devido à diminuição da velocidade na construção, enfrentam mais despedimentos colectivos". ("Building Slowdown Goes Commercial", Wall Street Journal )
O imobiliário comercial será a próxima queda. Há uma tremenda super-oferta de espaço a retalho à escala nacional e a sangria acaba de começar. Os construtores continuaram a erguer centros comerciais e edifícios de escritórios apesar de o imobiliário residencial ter afundado num despenhadeiro. Agora os bancos abalados terão de retomar milhares de edifícios vazios em centros comerciais vazios sem qualquer probabilidade de alugá-los no futuro próximo. É um desastre. Entre Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008 os gastos na construção comercial tiveram a queda mais aguda dos últimos 14 anos. O súbito declínio está a acrescentar cada vez mais pessoas às fileiras do desemprego.
Assim, o que significa tudo isto? O desemprego está alto, a produtividade está baixa, a inflação está a aumentar, o dólar está abaixo da água, o imobiliário comercial está no fosso e o país está a deslizar inexoravelmente para a recessão.
Quanto ao mercado habitacional
"A habitação está no seu "mais profundo e mais rápido retraimento desde a Grande Depressão", disse terça-feira passada o economista chefe da National Association of Home Builders, e o ímpeto da descida parece estar a acelerar-se.
"A habitação está num modo de grande contracção e será um outro importante peso sobre a economia no primeiro trimestre", disse David Seiders, economista chefe do NAHB's chief economist." ("Rapid Deterioration", MarketWatch)
As vendas de casas caíram 65 por cento em relação ao seu pico em 2005. Os stocks acumulam-se vertiginosamente. O número de casas vazias agora vão a cerca de 2 milhões, um aumento de 800 mil desde 2005. A procura está fraca e os preços estão a mergulhar. Tudo isto é mau. Enquanto isso, o Federal Reserve e a administração Bush estão a mexer-se para conceber um plano que impeça os proprietários de casas de empacotarem tudo e fugirem das suas hipotecas. Mas o que podem eles fazer? Será que eles realmente amortizariam parcialmente (write-down) o principal das hipotecas como recomenda Bernanke e enfrentariam anos de litigação dos possuidores de obrigações que compraram os títulos apoiados por hipotecas sob termos diferentes? Ou será que eles simplesmente permitirão o mercado limpar e remeter 2 milhões de proprietários de casa para o arresto só em 2008?
A bolha da deflação habitacional está finalmente a ser sentida na economia em geral. A situação líquida que se deteriora na habitação está a colocar pressão uma pressão baixista sobre os gastos do consumidor e a encolher o PIB. Além disso, o dólar está numa baixa histórica, e um intratável esmagamento do crédito deixou os mercados financeiros desbaratados. Peritos estão agora a prever que os gastos do consumidor são serão retomados até que os preços da habitação cessem de cair o que poderia ocorrer no fim de 2009. Quando o Japão experimentou um colapso semelhante do crédito/imobiliário, levou mais de uma década a recuperar. Não há razão para acreditar que a presente crise seja resolvida mais rapidamente.
Na sexta-feira, o gigante bancário USB estimou que o desastre no crédito acabaria por custar às instituições financeiras mais de US$600 mil milhões, três vezes mais do que a sua estimativa original de US$200 mil milhões. Mas a previsão do USB não levou em conta os US6 milhões de milhões (trillion) de perdas imobiliárias se os preços da habitação caírem 30 por cento nos próximos dois anos (o que é muito provável). Nem tão pouco levou em conta as perdas potenciais no mercado de finanças estruturadas onde US$7,8 milhões de milhões (os quais actualmente estão em "títulos fundidos") passaram a um congelamento profundo. Não há qualquer meio de saber quanto capital estará drenado do sistema no momento em que tudo isto terminar, mas se US&7 milhões de milhões foram perdidas na falência das dot.com, então a quantia deveria exceder em muito aquele número.
A bolha habitacional era inteiramente evitável. Foram as políticas do Federal Reserve que a tornaram inevitável. Ao fixar taxas de juro abaixo da taxa de inflação durante quase três anos, Greenspan ateou a especulação na habitação e criou uma falsa percepção de prosperidade. Na verdade, não era nada mais do que activar a inflação através da expansão da dívida. As acções do Fed foram complementadas pela recusa de legislação regulamentadora que impedisse os bancos comerciais de se interessarem pelo comércio de títulos. Uma vez que as leis foram alteradas, os bancos estavam livres para espalhar os seus títulos apoiados por hipotecas a investidores de todo o mundo (os títulos apoiados por hipotecas com classificação A estão actualmente a serem vendidos a apenas 13 por cento do seu valor facial!). Agora, aqueles títulos registados estão a explodir por toda a parte deixando grandes partes do sistema financeiro disfuncionais.
Como os investidores continuam a fugir de qualquer coisa remotamente ligada a hipotecas, o preço do risco, medido pelo spread sobre títulos corporativos, disparou. De facto, os investidores estão mesmo a afastar-se de GSEs super expostas como a Fannie Mae e Freddie Mac. Na medida em que o número de arrestos continuar a subir, a aversão ao risco intensificar-se-á disparando um desencadeamento selvagem de apostas alavancas nos hedge funds bem como uma paralisia mais ampla nos mercados financeiros.
Agora não há absolutamente nenhuma dúvida de que a tempestade que actualmente está a assolar as finanças em breve deixará a Wall Street de joelhos. Pode ser boa altura de recordar em 24 de Março de 2000 o NASDAQ atingiu o pico a 5048. Em 9 de Outubro de 2004 atingiu o fundo em 1114, uma perda de aproximadamente 80 por cento. Será que isto poderia acontecer outra vez?
Você pode apostar. Aguarde para ver o Dow a abraçar os 7000 no fim do ano.
O Wall Street Journal publicou um artigo na terça-feira que esboçava como os bancos alteraram padrões nas reuniões na Basiléia, na Suíça, a fim de obterem maior autonomia ao decidir questões que deveriam ter sido governadas por regulamentos estritos:
"Alguns dos principais banqueiros do mundo passaram quase uma década a conceber novas regras a fim de ajudar as instituições financeiras globais a permanecerem fora de perturbações... A sua doutrina primária: Aos bancos deveria ser dada mais liberdade para decidirem por si mesmos quanto risco assumiriam, uma vez que estavam em melhor posição do que os reguladores para efectuar tais decisões". ("Mortgage Fallout Exposes Holes in New Bank-risk Rules", Wall Street Journal )
É um caso clássico de raposas a decidirem que deveriam fiscalizar os aviários de galinhas.
O Comité da Basiléia sobre Supervisão Bancária é um grupo que abrange os governadores dos bancos centrais dos países do G-10: Bélgica, Canadá, França, Itália, Japão, Holanda, Suécia, Suíça, Grã-Bretanha e Estados Unidos. O grupo é suposta estabelecer as regras para manter suficiente capitalização dos bancos de modo a que os depositantes sejam protegidos. Mas isto é uma simulação. Ele parecer estar mais focando na manutenção do domínio americano e europeu sobre o mundo em desenvolvimento e assegurar que as alavancas do poder financeiro permaneçam nas garras manicuradas dos mandarins bancários do ocidente.
Agora que o sistema financeiro está em agonia terminal, muitas pessoas estão a perguntar-se sobre a sabedoria de entregar tanto poder a organizações que não operam no interesse público. Thomas Jefferson antecipou este cenário e emitiu uma advertência acerca dos perigos de abdicar da soberania em favor de não eleitos, banqueiros orientados para o lucro. Disse ele:
"Se o povo americano alguma vez permitir aos bancos controlarem a questão da nossa divisa, primeiro através da inflação, depois pela deflação, os bancos e as corporações que crescerão privarão o povo de toda a propriedade até que os seus filhos acordem sem casa no continente que os seus pais conquistaram".
Embora o país esteja a tropeçar rumo a uma aterragem económica drástica, os bancos ainda estão apenas interessados em descobrir um meio de se salvarem a si próprios. Na semana passada o New York Times revelou uma "proposta confidencial" do Bank of America aos membros do Congresso pedindo ao governo americano para garantir US$739 mil milhões em hipotecas que são "de risco moderado a alto de incumprimento" para salvar os bancos de perdas potenciais. Na quinta-feira, o Rep. Barney Frank – a operar no interesse dos seus constituintes bancários – fez um apelo na Casa dos Representantes sobre esta mesma questão, dizendo que o Congresso deveria considerar a compra de algumas destas hipotecas a afundar a fim de colaborar com os esforços dos proprietários de casas. Mas por que os contribuintes deveriam pagar pelos erros de bancos privados, especialmente quando aqueles bancos tem estado a ludibriar o público em milhares de milhões de dólares através da venda de títulos subprime sem valor?
O Fed já reduziu a taxa dos Fundos Fed de 2,25 pontos base para 3 por cento (mais do que um ponto abaixo da taxa actual de inflação) a fim de ajudar os bancos a recuperar algumas das suas perdas com más apostas. Bernanke também abriu uma Temporary Auction Facility (TAF), a qual permite aos bancos utilizarem mortgage-backed securities (MBS) e outros investimentos estruturados como colateral a 85 por cento do seu valor facial (apesar de os títulos somente valerem centavos de dólar no mercado aberto). Dessa forma, o TAF emprestou secretamente US$75 mil milhões a bancos com o capital esgotado, o que Bernanke pensa ser um desenvolvimento positivo. Mas por que o chefe do Fed está encorajado pelo facto de os maiores bancos de investimento do país precisarem tomar emprestado milhares de milhões de dólares a taxas de saldo só para permanecerem solventes? A verdade é que muitos dos bancos estão apenas a acolchoar os seus debilitados balanços de modo a que possam vasculhar o planeta à procura de investidores que lhes comprem partes dos seus privilégios.
Na quinta-feira Bernanke discursou à Independent Community of Bankers of America exortando-a a tomar quaisquer passos que fossem preciso a fim de impedir os proprietários de casas com saldo líquido negativo (negative equity) de fugirem das suas hipotecas. Juntamente com a proposta "taxa congelada" sobre as adjustable rate mortgages (ARMs), o chefe do Fed também sugeriu que os prestamistas reduzissem o principal sobre as hipotecas para seduzir os proprietários a fim de que se mantenham a efectuar os pagamentos nominais sobre os seus empréstimos. Mas, claramente, o arresto é a escolha mais sábia para muitos proprietários de casas que de outra forma podem ser amarrados a um activo de valor firmemente declinante durante o resto das suas vidas. Os proprietários deveriam basear as suas decisões naquilo que for do seu melhor interesse financeiro a longo prazo, tal como os banqueiros fariam. Se isto significa ir embora, então é o que eles deveriam fazer. O proprietário da casa não é de forma alguma responsável pelos problemas que derivam da vigarise da subprime/titularização. Isto foi obra totalmente dos banqueiros.
O Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) começou a aumentar a equipe em muitos dos seus gabinetes regionais a fim de tratar das previstas erupções de falências bancárias em estados mais duramente atingidos pelo estrago habitacional. A Califórnia, Florida e parte do Sudoeste definitivamente precisarão da máxima atenção. Estes estados estão a experimentar uma depressão habitacional e muitos dos bancos mais pequenos que emitiram as hipotecas e empréstimos para o imobiliário comercial estão destinados a serem martelados. Eles simplesmente não tem o colchão de capital para resistirem ao tsunami de incumprimentos e arrestos que estão a vir. Os depositantes deveriam garantir que todas as suas poupanças estão cobertas de acordo com as regras do FDIC; não mais de US$100 mil por conta. Os mercados monetários não estão assegurados.
Os países do G-7 também anunciaram na semana passada que se movimentos de preços "irracionais" persistissem, eles "colectivamente tomariam medidas adequadas para acalmarem os mercados financeiros". O grupo acrescentou efectuaria as suas actividades secretamente para terem o máximo efeito. Considere quão desesperada a situação deve realmente estar para os ministros das Finanças do G-7 emitirem uma advertência pública de que estão a planear intervir no mercado para impedir uma calamidade. Isto é impressionante. O grupo não especificou se estavam a falar acerca de escorar o tombo da nota verde ou comprar futuros nos mercados de acções como uma Equipe de Protecção de Afundamentos (Plunge Protection Team) global. No entanto, os seus comentários somam-se à percepção crescente de que as coisas estão fora de controle e a deteriorar-se rapidamente.
Com o petróleo, ouro e preços alimentares a subirem, o Fed tem sido violentamente criticado por cortas taxas e arriscar nova erosão do valor do dólar (Nesta manhã o dólar caiu para US$1,53 em relação ao euro!). Mas Bernanke está certo, o perigo real é a deflação. Estamos no princípio de uma recessão conduzida pelo consumidor, caracterizada pelo enfraquecimento da procura, falta de poupanças pessoais, declínio de valores-activos (particularmente habitações) e super-endividamento. Os aumentos de Fed da oferta monetária através de baixas taxas de juros não afectarão a diminuição do crescimento que será evidente até o final do ano. Milhões de milhões de dólares de derivativos, activos subprime super-alavancados e muitas outras más apostas estão a descosturar-se todas ao mesmo tempo drenando um oceano de capital virtual da economia. Se o crédito continuar a ser destruído ao ritmo actual, o país estará nas garras de algo como uma depressão com derrocada em 2009. Greg Ip, do Wall Street Journal, coloca isto assim no seu artigo "For the Fed, a Recession—Not Inflation—Poses Greater Threat":
"Então, por que está o Fed mais preocupado acerca do crescimento do que da inflação? Primeiro, ele pensa que o ganho de velocidade nos preços das mercadorias explica os aumentos, não apenas na inflação geral mas também no núcleo inflacionário: os custos mais altos da energia "passaram" para outros bens e serviços. O núcleo inflacionário ascendeu e caiu com a inflação da energia entre o princípio de 2006 e meados de 2007, e o Fed pensa que o mesmo estará provavelmente a acontecer agora. Se a energia e os preços alimentares pararem de ascender – eles realmente não têm de cair – tanto a inflação geral como o núcleo inflacionário retrocederiam".
Ip continua: "Responsáveis do Fed não pensam que o salto mais recente (nos alimentos e na energia) possam justificar-se pela oferta e procura fundamental... Uma explicação mais provável: investidores, talvez alarmados pela posição moderada do Fed, estão a despejar dinheiro em fundos de commodities e em divisas estrangeiras como uma barreira contra a inflação. ...Mas ganhos com preços especulativos não podem ser mantidos se os fundamentos não os suportarem. Se o Fed e os mercados de futuros estiverem certos, os preços estarão mais baixos, não mais altos, dentro de um ano.
Bernanke está certo quanto a este ponto. Aumentos temporários de preços não são o resultado de escassez, custos de produção acrescidos, ou questões fundamentais, mas da especulação. De facto, a procura por petróleo tem estado baixa em 3,4 por cento em relação às últimas quatro semanas comparadas com o mesmo período do ano passado, o que significa que os preços provavelmente cairão bruscamente uma vez que o frenesim das commodities perca vapor. Os investidores estão simplesmente a procurar algum lugar para colocar o seu dinheiro ao invés de colocá-los em instáveis títulos corporativos ou acções excessivamente caras. As commodities são a alternativa lógica. Mas tão logo os gastos do consumidor retrocedam, todas as classes de activos cairão em consequência, incluindo ouro e petróleo (e, sim, o dólar deveria recuperar algum terreno perdido, ainda que temporariamente).
Baixa cíclica ou recessão pós-bolha?
Um artigo no New York Times do presidente para a Ásia do Morgan Stanley, Stephen Roach, declara que o país não está numa baixa cíclica e sim numa recessão pós-bolha. Há uma grande diferença. Os cortes de taxas de juro do Fed o "Plano de Estímulo" de Bush provavelmente não impedirão os preços das casas de continuarem a cair nem consertarão milagrosamente os problemas nos mercados de crédito. A maciça expansão do crédito nos últimos seis anos criou um inchaço de US$45 milhões de milhões em derivativos que poderia implodir ou apenas desatar-se parcialmente. Ninguém sabe realmente. E ninguém realmente sabe quanto dano isto provocará ao sistema financeiro global. Permaneça sintonizado.
Roach observa que a recessão de 2000 a 2001 foi um colapso nos gastos das empresas que representou apenas uns 13 por cento do PIB. Compare-se aquela com a actual recessão a qual "foi posta em andamento pelo arrebentamento simultâneo das bolhas da propriedade e do crédito... Estes dois sectores económicos em conjunto atingem 78 por cento do produto interno bruto, ou exactamente seis vezes a fatia do sector que empurrou o país para a recessão sete anos atrás".
Não só a recessão iminente será seis vezes mais severa, ela será também a sirene de bombeiros para a sociedade com base no consumidor da América. As atitudes em relação aos gastos já mudaram dramaticamente desde que os preços dos alimentos e do combustível aumentaram. Esta tendência só pode crescer quando tempos difíceis principiam.
Roach acrescenta: "Para economias dependentes de activos, inclinadas à bolha, uma recuperação cíclica — mesmo quando assistida por agressiva acomodação monetária e fiscal — não é um dado... Os mentores políticos de Washington podem não ser capazes de deter esta baixa pós-bolha. Cortes nas taxas de juro provavelmente não impedirão o declínio dos preços das habitações por todo o país... Cortes agressivos nas taxas de juro não fizeram grande coisa para conter o contágio letal que se propagou nos mercados de crédito e de capital... Uma estratégia mais efectiva seria tentar inclinar a economia para longe do consumo e em direcção a exportações e investimentos muito necessários em infraestruturas.
Os mentores políticos no Federal Reserve e em Washington ainda estão presos ao passado, a tentar reviver gastos do consumidor através da criação de uma outra bolha com baixas taxas de juro e seu brinde de "estímulo" de US$600 por pessoa. Caminho errado. Investir em infraestrutura e tecnologias amigas do ambiente, reconstruir a economia desde a base, restabelecer a sanidade fiscal e minimizar gastos deficitários, colocar a América de volta ao trabalho a fazer coisas que as pessoas utilizam e que melhoram a sociedade e (como diz Roach) "ajudar as vítimas inocentes das consequências da bolha — especialmente família de baixos e médios rendimentos". E, o mais importante, abolir o Federal Reserve e devolver o controle do nosso dinheiro aos nossos representantes eleitos do Congresso. Este é o único caminho para colocar o futuro económico da América outra vez nas mãos do povo.
Aqui está um plano que todos nós podemos apoiar.