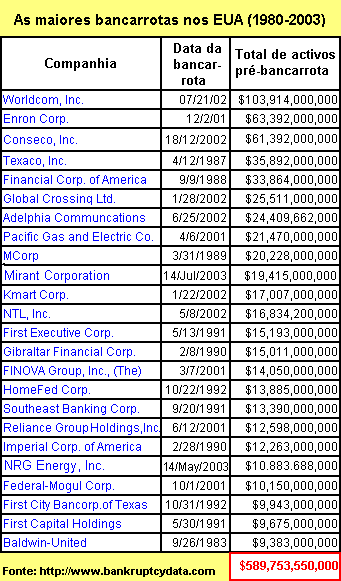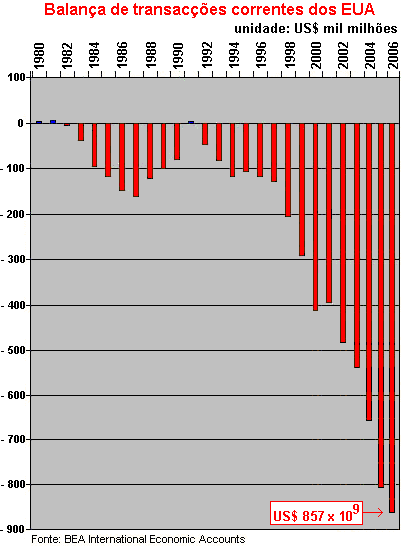A grande fábrica de consensos
Numa entrevista exclusiva, o lingüista Noam Chomsky debate o papel da mídia na preservação do capitalismo, o desgaste do governo Bush e o papel do Estado numa nova sociedade
Daniel Mermet
Le Monde Diplomatique — Comecemos pela questão da mídia. Na França, em maio de 2005, por ocasião do referendo sobre o Tratado da Constituição Européia, a maioria dos meios de comunicação de massa era partidária do “sim”. No entanto, 55% dos franceses votaram “não”. O poder de manipulação da mídia não parece, portanto, absoluto. Esse voto dos cidadãos representaria um “não” também aos meios de comunicação?
Noam Chomsky — O trabalho sobre a manipulação midiática ou a fábrica do consentimento, feito por mim e Edward Herman, não aborda a questão dos efeitos das mídias sobre o público [1]. É um assunto complicado, mas as poucas pesquisas detalhadas sugerem que a influência das mídias é mais expressiva na parcela da população com maior escolaridade. A massa da opinião pública parece menos dependente do discurso dos meios de comunicação.
Tomemos como exemplo a eventualidade de uma guerra contra o Irã: 75% dos norte-americanos acham que os Estados Unidos deveriam pôr fim às ameaças militares e privilegiar a busca de um acordo pela via diplomática. Pesquisas conduzidas por institutos ocidentais mostram que a opinião pública dos Estados Unidos e a do Irã convergem também sobre certos aspectos da questão nuclear: a esmagadora maioria das populações dos dois países acha que a zona que se estende de Israel ao Irã deveria estar totalmente livre de artefatos nucleares, inclusive os que hoje estão nas mãos das tropas norte-americanas na região. Ora, para se encontrar esse tipo de opinião na mídia, é preciso procurar por muito tempo.
Quanto aos principais partidos políticos norte-americanos, nenhum defende esse ponto-de-vista. Se o Irã e os Estados Unidos fossem autênticas democracias, no seio das quais a maioria realmente determinasse as políticas públicas, o impasse atual sobre a questão nuclear estaria sem dúvida resolvido.
Há outros casos parecidos. No que se refere, por exemplo, ao orçamento federal dos Estados Unidos, a maioria dos norte-americanos deseja uma redução das despesas militares e um aumento correspondente das despesas sociais, dos créditos depositados para as Nações Unidas, da ajuda humanitária e econômica internacional. Deseja, também, a anulação da redução de impostos que beneficia os norte-americanos mais ricos, decidida por George W. Bush.
Em todos esses aspectos, a política da Casa Branca é contrária aos anseios da opinião pública. Mas as pesquisas de opinião que revelam essa persistente oposição pública raramente são publicadas pelas mídias. Resulta que não somente os cidadãos são descartados dos centros de decisão política como também são mantidos na ignorância sobre o real estado da opinião pública.
Existe uma preocupação internacional com o abissal “déficit duplo” dos Estados Unidos: o déficit comercial e o déficit orçamentário. Eles somente existem em estreita relação com um terceiro: o déficit democrático, que não cessa de aumentar, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo ocidental.
LMD — Toda vez que perguntamos a uma estrela do jornalismo ou a um apresentador de grande jornal da televisão se ele sofre pressões ou é censurado, a resposta é invariavelmente “não”. O jornalista diz que é totalmente livre, que somente expressa suas próprias convicções. Conhecemos bem os mecanismos de dominação ideológica das ditaduras. Mas como funciona o controle do pensamento em uma sociedade democrática?
Chomsky — Quando os jornalistas são questionados, eles respondem de fato: “nenhuma pressão é feita sobre mim, escrevo o que quero”. E isso é verdade. Apenas deveríamos acrescentar que, se eles assumissem posições contrárias à norma dominante, não escreveriam mais seus editoriais. Não se trata de uma regra absoluta, é claro. Eu mesmo sou publicado pela mídia norte-americana. Os Estados Unidos não são um país totalitário. Mas ninguém que não satisfaça exigências mínimas terá chance de chegar à posição de comentarista respeitável. Essa é, aliás, uma das grandes diferenças entre o sistema de propaganda de um Estado totalitário e a maneira de agir das sociedades democráticas. Com certo exagero, nos países totalitários, o Estado decide a linha a ser seguida e todos devem se conformar. As sociedades democráticas funcionam de outra forma: a linha jamais é anunciada como tal; ela é subliminar. Realizamos, de certa forma, uma “lavagem cerebral em liberdade”. Na grande mídia, mesmo os debates apaixonados se situam na esfera dos parâmetros implicitamente consentidos – o que mantém na marginalidade muitos pontos de vista contrários.
O sistema de controle das sociedades democráticas é mais eficaz; ele insinua a linha dirigente como o ar que respiramos. Não percebemos, e, por vezes, nos imaginamos no centro de um debate particularmente vigoroso. No fundo, é infinitamente mais teatral do que nos sistemas totalitários.
Tomemos, por exemplo, o caso da Alemanha dos anos 30. Temos a tendência de esquecer, mas era então o país mais avançado da Europa, na vanguarda em matéria de ciência, técnica, arte, literatura e filosofia. E, depois, em pouquíssimo tempo, houve uma grande reviravolta e a Alemanha tornou-se o mais letal, o mais bárbaro Estado da história humana.
Tudo isso foi feito espalhando-se o medo. Medo dos bolcheviques, dos judeus, dos ciganos, dos norte-americanos — em suma, de todos aqueles que, segundo os nazistas, ameaçavam o coração da civilização européia, herdeira direta da civilização grega. Era o que escrevia o filósofo Martin Heidegger em 1935. Ora, a maior parte da mídia alemã, que bombardeou a população com esse tipo de mensagem, usou as mesmas técnicas de marketing utilizadas por publicitários norte-americanos. Não esqueçamos de como uma ideologia se afirma. Para dominar, a violência não basta. É preciso uma justificativa de outra natureza. Assim, quando uma pessoa exerce poder sobre outra, seja um ditador, um colonizador, um burocrata, um patrão ou um marido, ele precisa de uma ideologia justificadora, que sempre redunda na mesma coisa: a dominação é exercida para “o bem” do dominado. Em outras palavras, o poder se apresenta sempre como altruísta, desinteressado, generoso.
Nos anos 30, as regras da propaganda nazista consistiam, por exemplo, em escolher palavras simples e repeti-las sem parar, associando-lhes emoções, como o medo. Quando Hitler invadiu os Sudetos, em 1938, o fez invocando os objetivos mais nobres e caritativos: a necessidade de uma “intervenção humanitária” para impedir a “limpeza étnica” da população de língua alemã e garantir que todos pudessem viver sob a “asa protetora” da Alemanha, com o apoio da mais avançada potência do mundo no domínio das artes e da cultura.
Em propaganda, se de alguma maneira nada mudou depois de Atenas, houve certamente aperfeiçoamentos. Os instrumentos sofisticaram-se muito, em particular e paradoxalmente nos países mais livres do mundo: o Reino Unido e os Estados Unidos. Foi lá, não em outra parte, que a moderna indústria das relações públicas, isto é, a fábrica da opinião ou a propaganda, nasceu nos anos 20.
Esses dois países haviam de fato progredido em matéria de direitos democráticos: com o voto feminino, a liberdade de expressão etc. A tal ponto que o desejo de liberdade não podia mais ser contido somente pela violência estatal. Convertemo-nos, assim, às tecnologias da “fábrica do consentimento” [2]. A indústria das relações públicas produz, no sentido próprio dos termos, consentimento, aceitação, submissão. Ela controla as idéias, os pensamentos, os espíritos. Em relação ao totalitarismo, foi um grande progresso: é muito mais agradável sofrer o efeito de uma publicidade que se ver em uma sala de tortura. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é protegida em um grau sem paralelo em qualquer outro país do mundo. Isso é muito recente. Desde os anos 60, a Suprema Corte deu grande proteção e garantia à liberdade de expressão, o que traduz, na minha opinião, um princípio fundamental estabelecido desde o século 18 pelo Iluminismo. A Suprema Corte afirma que a palavra é livre com a única ressalva de não participar de ato criminoso. Se, por exemplo, entro em uma loja para roubar, um de meus cúmplices tem uma arma, e eu digo “atire!”, isso não será protegido pela Constituição. Quanto ao resto, o motivo deve ser particularmente grave para que a liberdade de expressão seja posta em xeque. A Suprema Corte já reafirmou tal princípio até mesmo em favor dos membros do Ku Klux Klan. Na França, no Reino Unido e, me parece, no resto da Europa, a liberdade de expressão é definida de maneira muito mais restritiva.
A meus olhos, a questão essencial é: o Estado tem o direito de definir qual é a verdade histórica e punir quem dela se afasta? O pensamento começa a se acomodar a uma prática propriamente stalinista. Os intelectuais franceses têm dificuldades em admitir que é essa a sua inclinação. No entanto, a recusa de tal abordagem não deveria comportar exceção. O Estado não deveria possuir nenhum meio de punir quem quer que pretenda que o Sol gire em torno da Terra. O princípio da liberdade de expressão tem algo de muito elementar: ou o defendemos no caso de opiniões que detestamos, ou renunciamos por completo à sua defesa. Mesmo Hitler e Stalin admitiam a liberdade de expressão daqueles que defendiam seus pontos de vista 3.
Acrescento que há algo de perturbador e mesmo de escandaloso em debater essas questões dois séculos após Voltaire, que, como sabemos, declarava: “Odeio as suas opiniões, mas daria a minha vida para que você pudesse expressá-las”. Seria prestar um triste desserviço às vítimas do holocausto adotar uma das políticas fundamentais de seus carrascos.
LMD — Em um de seu livros, você comenta a frase de Milton Friedman “ter lucro é a própria essência da democracia”...
Chomsky — A bem dizer, as duas coisas são de tal forma contrárias que não há sequer comentário possível. A finalidade da democracia é que as pessoas possam decidir suas próprias vidas e fazer as escolhas políticas que lhes concernem. A realização de lucros é uma patologia de nossas sociedades, associada a estruturas particulares. Em uma sociedade decente, ética, a preocupação com o lucro seria marginal. Tome como exemplo meu departamento universitário, no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Lá, alguns cientistas trabalham duro para ganhar muito dinheiro. Mas são considerados um pouco marginais, um pouco perturbados, quase casos patológicos. O espírito que anima a comunidade acadêmica é, antes, o da descoberta, a um só tempo por interesse pessoal e para o bem de todos.
LMD — Em texto que lhe é dedicado, Jean Ziegler escreve: “ existem três totalitarismos: o totalitarismo stalinista, o totalitarismo nazista, e, agora, o ‘tina’ [3].” Você compararia esses três totalitarismos?
Chomsky — Eu não os colocaria no mesmo plano. Combater o “tina” é afrontar uma construção intelectual que não pode ser comparada aos campos de concentração ou ao gulag. Além disso, a política norte-americana suscita oposição em escala planetária. Na América Latina, a Argentina e a Venezuela expulsaram o FMI. E os Estados Unidos não puderam recorrer ao que seria a norma há vinte ou trinta anos: o golpe militar. O programa econômico neoliberal que foi imposto à América Latina durante os anos 80 e 90 é hoje rejeitado no continente. Vemos essa mesma oposição à globalização econômica por toda parte.
O movimento global pela justiça, sempre sob o foco da mídia na época de cada reunião do Fórum Social Mundial, trabalha na realidade durante todo o ano. É um fenômeno muito recente na história, que marca talvez o início de uma verdadeira Internacional. Seu principal cavalo de batalha é a existência de uma alternativa. Aliás, que melhor exemplo de uma globalização diferente do que o próprio Fórum Social Mundial? As mídias hostis chamam aqueles que se opõem à globalização neoliberal de “os antiglobalização”, quando, na verdade, eles lutam por uma outra globalização, a globalização dos povos.
Podemos observar o contraste entre uns e outros, porque, no mesmo momento, ocorre o Fórum Econômico Mundial, que trabalha para a integração econômica planetária, mas somente em prol dos interesses das altas financeiras, dos bancos e dos fundos de pensão – potências que controlam, também, as mídias. É a concepção deles de integração global: uma integração a serviço dos investidores. As mídias dominantes entendem que somente tal integração global merece o título oficial de globalização. Eis um belo exemplo de funcionamento da propaganda ideológica nas sociedades democráticas. Essa propaganda é eficaz a tal ponto que mesmo os participantes do Fórum Social aceitam, às vezes, a qualificação pejorativa de “antimundialistas”. Em Porto Alegre, compareci ao Fórum e participei da conferência mundial dos camponeses. Eles representam, sozinhos, a maior parte da população do planeta...
LMD — Você é classificado na categoria dos anarquistas ou dos socialistas libertários. Na democracia, tal como você a concebe, qual seria o lugar do Estado?
Chomsky — Vivemos neste mundo, não em um universo imaginário. Então, neste mundo, existem instituições tirânicas, que são as grandes empresas. É o que há de mais próximo das instituições totalitárias. Elas não têm, por assim dizer, que prestar qualquer esclarecimento ao público ou à sociedade. Agem como predadoras, tendo como presas as outras empresas. Para se defender, as populações dispõem apenas de um instrumento: o Estado. Mas ele não é um escudo muito eficaz, pois, em geral, está estreitamente ligado aos predadores. Há, no entanto, uma diferença que não se pode negligenciar: enquanto, por exemplo, a General Electric não deve satisfações a ninguém, o Estado deve regularmente se explicar à população.
Quando a democracia tiver se alargado ao ponto em que os cidadãos controlem os meios de produção e de troca e participem no funcionamento e na direção do conjunto em que vivem, então o Estado poderá, pouco a pouco, desaparecer. Ele será substituído por associações voluntárias sediadas nos locais de trabalho e de moradia.
LMD — Seria uma nova forma de sovietes? Qual a diferença em relação aos sovietes da Rússia revolucionária?
Seriam sovietes, sim. Mas lembremos que, na Rússia, a primeira coisa que Lênin e Trotski destruíram, logo após a Revolução de Outubro, foram os sovietes: os conselhos de operários e todas as instituições democráticas. Lênin e Trotski foram, nesse sentido, os piores inimigos do socialismo no século 20. Porque, marxistas ortodoxos, eles consideravam que uma sociedade atrasada como a da Rússia de sua época não poderia passar diretamente ao socialismo sem ser precipitada à força na industrialização.
Em 1989, no momento do desmoronamento do regime comunista, eu pensei que esse desmoronamento, paradoxalmente, representava uma vitória para o socialismo. Pois o socialismo, tal como o concebo, implica, no mínimo, eu repito, o controle democrático da produção, das trocas e de outras dimensões da existência humana.
No entanto, os dois principais sistemas de propaganda conspiraram para afirmar que o sistema tirânico implantado por Lênin e Trotski e depois transformado em monstruosidade por Stalin era o “socialismo”. Os dirigentes ocidentais não fizeram mais do que se deleitar com esse uso absurdo e escandaloso do termo, que lhes permitiu difamar o socialismo autêntico durante décadas.
Com igual entusiasmo, mas em sentido contrário, o sistema de propaganda soviético tentou explorar a seu proveito a simpatia e o engajamento que os ideais socialistas autênticos inspiravam nas massas de trabalhadores.
LMD — Não é verdade que, segundo os princípios anarquistas, todas as formas de auto-organização acabaram por desmoronar?
Chomsky — Não há “princípios anarquistas” fixos, uma espécie de catecismo libertário ao qual se deva prestar juramento. O anarquismo, ao menos como o vejo, é um movimento do pensamento e da ação que busca identificar as estruturas de autoridade e dominação, exigindo que elas se justifiquem, e, se elas se mostram incapazes, como acontece freqüentemente, tenta superá-las.
Longe de ter “desmoronado”, o anarquismo, o pensamento libertário, vai muito bem. Ele é a fonte de muitos progressos reais. Formas de opressão e injustiça que mal eram reconhecidas, e muito menos combatidas, não são hoje mais admitidas. É uma conquista, um avanço para o conjunto dos seres humanos, não uma derrota.
[
1] Herman, Edward e Chomsky, Noam: Manufacturing consent, Nova York, Pantheon, 2002.
[2] Expressão do ensaísta norte-americano Walter Lippman, que, a partir dos anos 1920, pondo em dúvida a capacidade do homem comum se determinar com sabedoria, propôs que as elites cultas “lapidassem” a informação antes que ela atingisse a massa.
[3] Tina: palavra formada com as iniciais da expressão inglesa “there is no alternative” (não há alternativa), utilizada por Margaret Thatcher para proclamar o caráter inelutável do capitalismo neoliberal.

 "As acções alcançaram o que parece ser um patamar permanentemente alto". Irving Fisher, Professor of Economics, Yale University, 1929.
"As acções alcançaram o que parece ser um patamar permanentemente alto". Irving Fisher, Professor of Economics, Yale University, 1929.