resistir info - 24 abril 2013
por Rémy Herrera
[*]
Introdução
O capital financeiro, composto pelos mais poderosos oligopólios bancários e financeiros, os quais possuem capital a uma escala mundial, tem o seu centro de gravidade no próprio cerne do poder hegemónico do sistema mundial: os Estados Unidos da América. Historicamente, o retorno do capital financeiro ao poder – consolidado nas últimas décadas do século dezanove, mas colocado sob controle do estado após a Grande Depressão de 1929 – verificou-se após a confirmação do declínio nas taxas de lucro registadas nos principais países capitalistas do centro (Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão) principiados no fim da década de 1960, as quais aprofundaram-se durante a década de 1970 e tornaram-se uma crise do capital aberta e generalizada, com a queda de todo o sistema monetário no caos e na explosão de desigualdades.
O ponto de viragem para a alta finança esteve ligado ao aumento da taxa de juro (ou prime rate ) nos Estados Unidos em Outubro de 1979. O Federal Reserve Bank, influenciado por políticas monetaristas, unilateralmente e brutalmente tomou esta decisão. Como o "prestamista de último recurso" no sistema monetário internacional, o Fed executou um " coup d'État financeiro" através do qual a alta finança, essencialmente aquela dos Estados Unidos, restabeleceu o seu poder sobre a economia mundial. As consequências desta mudança foram globais, elas afectaram tanto o Norte, cujas estratégias, sob "constrangimento externo", acomodaram os componentes das suas políticas monetárias, como o Sul, contribuindo para estabelecer as condições para uma epidemia de crises de dívida.
Esta reconquista financeira ocorreu sobre as ruínas dos antigos pilares do sistema global: i) "Regulação fordista" do capitalismo no Norte, desafiadas pela estagflação da década de 1970; ii) programas falhados das burguesias nacionais no Sul, como mostram as crises de dívida na década de 1980; e iii) colapso do bloco soviético no Leste com o fim a URSS no princípio da década de 1990. A conjunção destes três grandes eventos provocou mudanças profundas no equilíbrio de poder entre capital e trabalho à escala global, permitindo a ofensiva neoliberal contra os controles do estado que anteriormente estavam no cerne do seu projecto de transformação de formações sociais.
Ao nível nacional, os dogmas neoliberais eram atacar qualquer forma de controle estatal e deformar a propriedade do capital em favor do sector privado; isto incluiu reduzir despesas públicas e impor restrições salariais como um elemento chave, dando prioridade, acima de tudo, ao evitar da inflação. Ao nível internacional, os objectivos foram perpetuar a supremacia dos US dólar sobre o sistema monetário mundial, manter taxas de câmbio flexíveis e promover o comércio sem restrições através da remoção de barreiras proteccionistas e liberalização de transferências de capital. Tais mudanças moveram o centro de gravidade do poder para a finança global.
A "normalização" desta estratégia de desregulação – isto é, de deixar os oligopólios dominantes terem controle exclusivo da "re-regulação" – e da globalização financeira – cujos efeitos foram ampliados pela ausência de uma entidade política supranacional que controlasse os mercados financeiros – era parte das funções de instituições monetárias locais (bancos centrais "independentes") bem como das organizações internacionais, sob o guarda-chuva do arsenal militar dos EUA. O problema é que, hoje, esta estratégia global está em crise profunda, tanto na sua dimensão económica como militar. Este artigo pretende analisar, no quadro destes dois aspectos, as origens, características, mecanismos e consequências da crise actual na hegemonia do sistema capitalista mundial.
A actual crise sistémica do capital
Um dos erros mais frequentes na interpretação da crise actual é considerá-la apenas uma "crise financeira", a qual está a contaminar a esfera da "economia real". Ela é, de facto, uma crise do capitalismo, da qual os aspectos mais visíveis e publicitados emergiram dentro da esfera financeira devido ao grau extremo de financiarização do capitalismo contemporâneo. Estamos a tratar de uma crise sistémica que afecta o próprio cerne do sistema capitalista, o que quer dizer, nos Estados Unidos, o centro de poder da alta finança que tem estado a controlar a acumulação ao longo das últimas três décadas. O desastre não se deve à combinação de factores conjunturais: é um fenómeno estrutural.
As séries de repetidas crises monetário-financeiras que atingiram sucessivamente diferentes economias ao longo dos últimos trinta anos, desde o "coup d'État financeiro" cometido em 1979 pela alta finança nos Estados Unidos, fazem parte integrante da mesma crise: México em 1982; crise de dívida dos países em desenvolvimento na década de 1980; os próprios Estados Unidos em Outubro de 1987; a União Europeia em 1992-1993; o México em 1994; o Japão em 1995; a chamada Ásia emergente em 1997.1998; a Rússia e o Brasil em 1998-1999; os Estados Unidos mais uma vez em 2000 com o estouro da "nova economia da bolha"; então a Argentina e a Turquia em 2000-2001, e assim por diante. Esta crise agravou-se recentemente, sobretudo desde 2006-2007, arrancando a partir do centro hegemónico do sistema mundial e tornando-se generalizada e multidimensional (sócio-económica, política, alimentar, energética, climática...).
Desde há alguns anos tem havido um certo número de pensadores a sustentarem que a desvalorização do capital era inelutável que seria brutal e numa grande escala. [1] Basicamente esta crise podia ser interpretada como uma crise de super-acumulação de capital que decorre da própria anarquia da produção e leva a uma pressão para a taxa de lucro cair tendencialmente quando as contra-tendências – incluindo as novas, ligadas a derivativos – estancaram-se. Esta super-acumulação manifesta-se através de um excesso de produção vendável, não porque não haja suficientes pessoas que necessitem ou desejem consumir, mas ao invés disso porque a concentração de riqueza tende a impedir uma cada vez maior proporção da população de poder compras as mercadorias. Ao invés de ser questão de uma super-produção padrão de bens, a extraordinária expansão do sistema de crédito tornou possível para o capital acumular em capital-dinheiro o qual pode assumir formas que são cada vez mais abstractas.
"Capital fictício" parece ser um conceito muito importante para analisar a actual crise do capital (Carcanholo e Nakatani, 1999). Seu princípio básico é a capitalização de receitas as quais são baseadas em valor excedente futuro. Esta espécie de capital é formada principalmente dentro do sistema de crédito, ligando firmas capitalistas ao estado capitalista. Nesta intersecção podem ser encontradas dívidas públicas, capital bancário e bolsas de valores, mas também fundos de pensão, hedge funds especulativos (localizados em paraísos fiscais), ou outras entidades semelhantes. Nos dias de hoje, os veículos de capital fictício mais favorecidos são a titularização (securitization), os quais transformam activos em títulos e as trocas em derivativos.
Capital fictício, simultaneamente irreal e real, é uma noção complexa. Apesar da sua natureza parcialmente parasitária, um tal capital beneficia de uma distribuição de valor excedente – sua liquidez dá ao seu proprietário o poder de convertê-lo, sem qualquer perda de capital, na "liquidez par excellence ": moeda. Assim, ele alimenta uma acumulação de capital fictício adicional, como meio de remunerar-se. A análise do capital fictício leva ao conceito de "reprodução ampliada", bem como ao exorbitante desenvolvimento de formas de capital cada vez mais irreais, como fontes de valorização autonomizada que aparentemente estão mais separadas do valor excedente ou são apropriadas sem trabalho, como "por magia". A especulação não é um "excesso" ou "erro" de governação corporativa: é um remédio contra o mal estrutural do capitalismo, um remédio que actua contra a tendência para queda da taxa de lucro e proporciona saídas para as massas de capital que já não podem mais ser investidas lucrativamente – o estouro das chamadas "bolhas financeiras" é o preço a ser pago.
Em consequência, os montantes correspondentes à criação de capital fictício ultrapassaram, de modo rápido e vasto, os montantes destinados a reproduzir directamente capital produtivo. Exemplo: em 2006, o valor anual das exportações mundiais era igual a três dias de comércio em contratos bilaterais, chamados "off-exchanges", os quais não são portanto registados em balanços, e criados quase sem nenhumas restrições cautelares, com 4.200 mil milhões de dólares comerciados por dia. Foram sobretudo os derivativos de crédito, com suas complexas disposições de credit default swaps (CDS) ou collateralized debt obligations (CDO), que criaram ao mudar a visão tradicional do crédito e lançar em jogo vários graus de capital fictício. Estes 4,2 tera dólares são comerciados por um número muito restrito de oligopólios financeiros, os "primary dealers", mencionados pelo Fed como o "G15": Morgan Stanley, Goldman Sachs e outros 13.
A crise que estalou na secção subprime do mercado habitacional dos EUA foi preparada por décadas de super-acumulação deste capital fictício. Ela deve ser entendida dentro do contexto de um longo período de agravamento da disfunção nos mecanismos de regulação do sistema capitalista mundial, pelo menos desde a super-acumulação de capital-dinheiro na década de 1960, ligada a défices internos e externos dos Estados Unidos – parcialmente causados pela guerra do Vietname – até a tensões insustentáveis sobre o dólar e a uma proliferação de eurodólares, então petrodólares, nos mercados inter-bancários (Herrera e Nakatani, 2008).
Portanto, as contradições que esta crise revelou têm raízes de longo prazo na exaustão dos motores de expansão que operaram após a II Guerra Mundial, os quais levaram àquelas transformações financeiras. Na esfera real, as formas de extracção do valor excedente a organização da produção alcançaram os seus limites, elas tinham de ser substituídas por novos métodos e uma redinamização do progresso tecnológico (como tecnologia da informação, robótica, internet, ...), modificando as bases sociais da produção pela substituição de trabalho por capital. Após uma sobre-acumulação concentrada na esfera financeira, o excesso de oferta acentuou as pressões reduzindo a taxa de lucro que se observava desde a década de 1960.
O capital financeiro, composto pelos mais poderosos oligopólios bancários e financeiros, os quais possuem capital a uma escala mundial, tem o seu centro de gravidade no próprio cerne do poder hegemónico do sistema mundial: os Estados Unidos da América. Historicamente, o retorno do capital financeiro ao poder – consolidado nas últimas décadas do século dezanove, mas colocado sob controle do estado após a Grande Depressão de 1929 – verificou-se após a confirmação do declínio nas taxas de lucro registadas nos principais países capitalistas do centro (Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão) principiados no fim da década de 1960, as quais aprofundaram-se durante a década de 1970 e tornaram-se uma crise do capital aberta e generalizada, com a queda de todo o sistema monetário no caos e na explosão de desigualdades.
O ponto de viragem para a alta finança esteve ligado ao aumento da taxa de juro (ou prime rate ) nos Estados Unidos em Outubro de 1979. O Federal Reserve Bank, influenciado por políticas monetaristas, unilateralmente e brutalmente tomou esta decisão. Como o "prestamista de último recurso" no sistema monetário internacional, o Fed executou um " coup d'État financeiro" através do qual a alta finança, essencialmente aquela dos Estados Unidos, restabeleceu o seu poder sobre a economia mundial. As consequências desta mudança foram globais, elas afectaram tanto o Norte, cujas estratégias, sob "constrangimento externo", acomodaram os componentes das suas políticas monetárias, como o Sul, contribuindo para estabelecer as condições para uma epidemia de crises de dívida.
Esta reconquista financeira ocorreu sobre as ruínas dos antigos pilares do sistema global: i) "Regulação fordista" do capitalismo no Norte, desafiadas pela estagflação da década de 1970; ii) programas falhados das burguesias nacionais no Sul, como mostram as crises de dívida na década de 1980; e iii) colapso do bloco soviético no Leste com o fim a URSS no princípio da década de 1990. A conjunção destes três grandes eventos provocou mudanças profundas no equilíbrio de poder entre capital e trabalho à escala global, permitindo a ofensiva neoliberal contra os controles do estado que anteriormente estavam no cerne do seu projecto de transformação de formações sociais.
Ao nível nacional, os dogmas neoliberais eram atacar qualquer forma de controle estatal e deformar a propriedade do capital em favor do sector privado; isto incluiu reduzir despesas públicas e impor restrições salariais como um elemento chave, dando prioridade, acima de tudo, ao evitar da inflação. Ao nível internacional, os objectivos foram perpetuar a supremacia dos US dólar sobre o sistema monetário mundial, manter taxas de câmbio flexíveis e promover o comércio sem restrições através da remoção de barreiras proteccionistas e liberalização de transferências de capital. Tais mudanças moveram o centro de gravidade do poder para a finança global.
A "normalização" desta estratégia de desregulação – isto é, de deixar os oligopólios dominantes terem controle exclusivo da "re-regulação" – e da globalização financeira – cujos efeitos foram ampliados pela ausência de uma entidade política supranacional que controlasse os mercados financeiros – era parte das funções de instituições monetárias locais (bancos centrais "independentes") bem como das organizações internacionais, sob o guarda-chuva do arsenal militar dos EUA. O problema é que, hoje, esta estratégia global está em crise profunda, tanto na sua dimensão económica como militar. Este artigo pretende analisar, no quadro destes dois aspectos, as origens, características, mecanismos e consequências da crise actual na hegemonia do sistema capitalista mundial.
A actual crise sistémica do capital
Um dos erros mais frequentes na interpretação da crise actual é considerá-la apenas uma "crise financeira", a qual está a contaminar a esfera da "economia real". Ela é, de facto, uma crise do capitalismo, da qual os aspectos mais visíveis e publicitados emergiram dentro da esfera financeira devido ao grau extremo de financiarização do capitalismo contemporâneo. Estamos a tratar de uma crise sistémica que afecta o próprio cerne do sistema capitalista, o que quer dizer, nos Estados Unidos, o centro de poder da alta finança que tem estado a controlar a acumulação ao longo das últimas três décadas. O desastre não se deve à combinação de factores conjunturais: é um fenómeno estrutural.
As séries de repetidas crises monetário-financeiras que atingiram sucessivamente diferentes economias ao longo dos últimos trinta anos, desde o "coup d'État financeiro" cometido em 1979 pela alta finança nos Estados Unidos, fazem parte integrante da mesma crise: México em 1982; crise de dívida dos países em desenvolvimento na década de 1980; os próprios Estados Unidos em Outubro de 1987; a União Europeia em 1992-1993; o México em 1994; o Japão em 1995; a chamada Ásia emergente em 1997.1998; a Rússia e o Brasil em 1998-1999; os Estados Unidos mais uma vez em 2000 com o estouro da "nova economia da bolha"; então a Argentina e a Turquia em 2000-2001, e assim por diante. Esta crise agravou-se recentemente, sobretudo desde 2006-2007, arrancando a partir do centro hegemónico do sistema mundial e tornando-se generalizada e multidimensional (sócio-económica, política, alimentar, energética, climática...).
Desde há alguns anos tem havido um certo número de pensadores a sustentarem que a desvalorização do capital era inelutável que seria brutal e numa grande escala. [1] Basicamente esta crise podia ser interpretada como uma crise de super-acumulação de capital que decorre da própria anarquia da produção e leva a uma pressão para a taxa de lucro cair tendencialmente quando as contra-tendências – incluindo as novas, ligadas a derivativos – estancaram-se. Esta super-acumulação manifesta-se através de um excesso de produção vendável, não porque não haja suficientes pessoas que necessitem ou desejem consumir, mas ao invés disso porque a concentração de riqueza tende a impedir uma cada vez maior proporção da população de poder compras as mercadorias. Ao invés de ser questão de uma super-produção padrão de bens, a extraordinária expansão do sistema de crédito tornou possível para o capital acumular em capital-dinheiro o qual pode assumir formas que são cada vez mais abstractas.
"Capital fictício" parece ser um conceito muito importante para analisar a actual crise do capital (Carcanholo e Nakatani, 1999). Seu princípio básico é a capitalização de receitas as quais são baseadas em valor excedente futuro. Esta espécie de capital é formada principalmente dentro do sistema de crédito, ligando firmas capitalistas ao estado capitalista. Nesta intersecção podem ser encontradas dívidas públicas, capital bancário e bolsas de valores, mas também fundos de pensão, hedge funds especulativos (localizados em paraísos fiscais), ou outras entidades semelhantes. Nos dias de hoje, os veículos de capital fictício mais favorecidos são a titularização (securitization), os quais transformam activos em títulos e as trocas em derivativos.
Capital fictício, simultaneamente irreal e real, é uma noção complexa. Apesar da sua natureza parcialmente parasitária, um tal capital beneficia de uma distribuição de valor excedente – sua liquidez dá ao seu proprietário o poder de convertê-lo, sem qualquer perda de capital, na "liquidez par excellence ": moeda. Assim, ele alimenta uma acumulação de capital fictício adicional, como meio de remunerar-se. A análise do capital fictício leva ao conceito de "reprodução ampliada", bem como ao exorbitante desenvolvimento de formas de capital cada vez mais irreais, como fontes de valorização autonomizada que aparentemente estão mais separadas do valor excedente ou são apropriadas sem trabalho, como "por magia". A especulação não é um "excesso" ou "erro" de governação corporativa: é um remédio contra o mal estrutural do capitalismo, um remédio que actua contra a tendência para queda da taxa de lucro e proporciona saídas para as massas de capital que já não podem mais ser investidas lucrativamente – o estouro das chamadas "bolhas financeiras" é o preço a ser pago.
Em consequência, os montantes correspondentes à criação de capital fictício ultrapassaram, de modo rápido e vasto, os montantes destinados a reproduzir directamente capital produtivo. Exemplo: em 2006, o valor anual das exportações mundiais era igual a três dias de comércio em contratos bilaterais, chamados "off-exchanges", os quais não são portanto registados em balanços, e criados quase sem nenhumas restrições cautelares, com 4.200 mil milhões de dólares comerciados por dia. Foram sobretudo os derivativos de crédito, com suas complexas disposições de credit default swaps (CDS) ou collateralized debt obligations (CDO), que criaram ao mudar a visão tradicional do crédito e lançar em jogo vários graus de capital fictício. Estes 4,2 tera dólares são comerciados por um número muito restrito de oligopólios financeiros, os "primary dealers", mencionados pelo Fed como o "G15": Morgan Stanley, Goldman Sachs e outros 13.
A crise que estalou na secção subprime do mercado habitacional dos EUA foi preparada por décadas de super-acumulação deste capital fictício. Ela deve ser entendida dentro do contexto de um longo período de agravamento da disfunção nos mecanismos de regulação do sistema capitalista mundial, pelo menos desde a super-acumulação de capital-dinheiro na década de 1960, ligada a défices internos e externos dos Estados Unidos – parcialmente causados pela guerra do Vietname – até a tensões insustentáveis sobre o dólar e a uma proliferação de eurodólares, então petrodólares, nos mercados inter-bancários (Herrera e Nakatani, 2008).
Portanto, as contradições que esta crise revelou têm raízes de longo prazo na exaustão dos motores de expansão que operaram após a II Guerra Mundial, os quais levaram àquelas transformações financeiras. Na esfera real, as formas de extracção do valor excedente a organização da produção alcançaram os seus limites, elas tinham de ser substituídas por novos métodos e uma redinamização do progresso tecnológico (como tecnologia da informação, robótica, internet, ...), modificando as bases sociais da produção pela substituição de trabalho por capital. Após uma sobre-acumulação concentrada na esfera financeira, o excesso de oferta acentuou as pressões reduzindo a taxa de lucro que se observava desde a década de 1960.

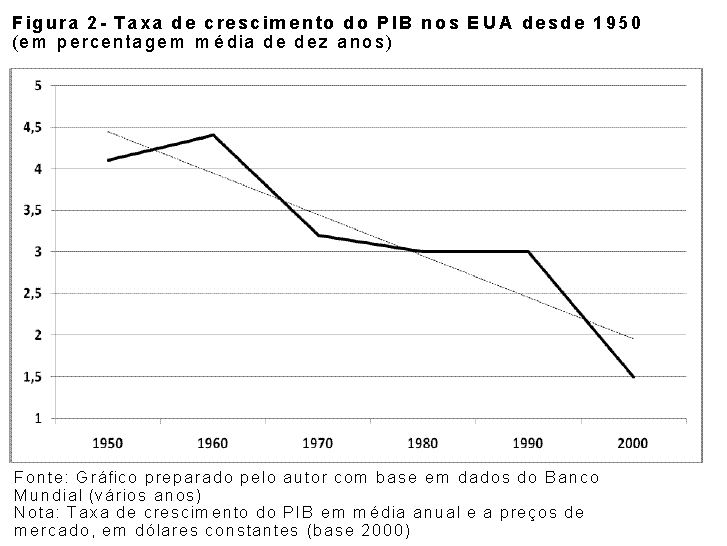

Os Estados Unidos no cerne da crise
A crise foi provocada pela dinâmica que jaz no cerne da própria economia estado-unidense. Por um lado, há uma reequilibragem destes desequilíbrios internos e externos pela drenagem para o exterior de capital estrangeiro duradouro numa escala internacional. Isto pode ser visto como uma operação das classes dominantes dos EUA, absorvendo riqueza do resto do mundo. Por outro lado, causou a maior concentração de riqueza dentro do país em um século. Isto pode ser mostrado por algumas estatísticas: do total de rendimentos nos Estados Unidos, a fatia de rendimento monopolizada pelos 1% mais ricos era de 10% em 1979; em 2009, era de 25%; a proporção dos 10% mais ricos era de um terço do total de rendimentos trinta anos atrás; agora, elevou-se à metade. A tremenda ascensão em lucros financeiros – através da acumulação de capital fictício – pelas classes dominantes deformou a economia dos EUA tomada como um todo. A taxa de poupança, por exemplo, tornou-se negativa pouco antes da crise (Herrera, 2011b).
Alguns dos principais factores que explicam a crise são "reais" e ligados à austeridade: a crise subprime, na qual muitas famílias pobres encontraram-se em incumprimento, também pode ser analisada pelas políticas de austeridade conduzidas ao longo de mais de 30 anos, as quais diminuíram salários, tornaram o emprego flexível e precário, estenderam o desemprego a uma escala maciça, degradaram condições de vida – políticas ditas neoliberais, que desaceleraram os motores que criam procura e tornaram-na artificial, portanto insustentável. Assim, este regime tem mantido o crescimento pela promoção da procura para consumo privado, enquanto afrouxava e aumentava linhas de crédito. Este boom sem precedentes no sistema de crédito revelou a crise de sobre-acumulação na sua versão actual. Numa sociedade onde um número crescente de indivíduos são excluídos ou deixados sem direitos, expandir oportunidades disponíveis para donos de capital só podia atrasar a desvalorização de fundos excedentes investidos em mercados financeiros – mas não evitá-la.
Uma das manifestações da crise foi uma destruição brutal de capital fictício. Em 2008, a capitalização das bolsas de valores mundiais caiu de 48,3 para 26,1 milhões de milhões de dólares. Esta espiral descendente no valor dos activos foi acompanhada por uma perda de confiança e uma situação de iliquidez no mercado inter-bancário – sendo explicação mais provável uma insolvência de muitos bancos. Consequentemente, num contexto onde os preços de derivativos compósitos e os riscos que transportam eram cada vez mais mal avaliados, os problemas mudaram-se do sector habitacional subprime para aquele dos créditos de créditos, a seguir para empréstimos solventes (primes), antes do estouro da bolha das ferramentas ligadas a hipotecas habitacionais contaminarem os outros sectores dos mercados financeiros e, a partir dali, do próprio mercado monetário.
Para além da destruição de capital fictício que leva a quedas drásticas na capitalização de mercado, [2] é todo o sistema de financiamento da economia que ficou bloqueado. Portanto, as economias entraram em depressão conjunturalmente a partir de 2007 – mas também, por razões estruturais, num mundo onde pico foi atingido para centros recursos naturais estratégicos (dentre eles, o petróleo) e onde a busca de novas fontes de energia coloca limites objectivos ao crescimento, tudo isto dando origem a pressões para guerras. Em consequência, os indicadores económicos foram afectados: quedas na taxa de crescimento do PIB (Figuras 1 e 2), no consumo familiar e no comércio externo, défices de exploração para numerosas empresas, desemprego, perdas no sector habitacional, etc.
Multiplicaram-se bancarrotas de empresas e afectaram alguns líderes em sectores industriais que registaram perdas abissais (General Motors, por exemplo). Daí a explosão da taxa de desemprego para mais de 10% da força de trabalho no quarto trimestre de 2009. Seguindo a definição oficial e bastante restritiva, o desemprego atingiu aproximadamente 15 milhões de pessoas em 2010 (Figura 3). E sua estrutura deteriorou-se: a proporção de desempregados a longo prazo aumentou drasticamente a partir do segundo semestre de 2008. Os sectores de produção tradicionais foram os mais gravemente afectados (indústria, construção, agricultura); e as comunidades afro-americana e hispânica – ou "raças", conforme o vocabulário padrão da administração dos EUA – sofreram mais do que outras. Simultaneamente, os lucros total corporativos apropriados por todos os oligopólios estado-unidenses da alta finança – isto é, utilizando a mesma terminologia, as instituições financeiras interna, incluindo sectores das finanças, banca e seguros – recuperaram-se muito rapidamente, retornando em 2009 para o mesmo nível de 2001 e então, no fim de 2010, para o mesmo nível de lucros do momento anterior ao estalar da crise (Figura 4).
Uma das principais características do caminho neoliberal era, até a economia ter implodido, uma baixa taxa de acumulação nos Estados Unidos. Em 2000, a seguir à alta em valor conduzida pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a queda provocada pelo estouro da bolha da "nova economia", causou um acentuado arrefecimento da actividade económica. Durante os mandatos de George W. Bush, o crescimento do PIB nunca foi superior à taxa de 2,5% em qualquer ano. Esta taxa declinou outra vez durante o Verão de 2007 e entrou em colapso no segundo semestre de 2008, com a "crise financeira" no sector imobiliário propagando-se a toda a economia. Desde o fim de 2006, os ganhos de produtividade registados após o aumento temporário durante o episódio da "nova economias" desaceleraram-se e convergiram rumo à sua muito mais moderada tendência de longo prazo.
Alguns aspectos preocupantes da crise estão ligados à elevada dívida pública, particularmente aquela do governo federal, o qual "nacionalizou" parcialmente dívidas privadas. Há também a contrapartida externa deste processo conduzido pelo endividamento maciço, isto é, a deterioração da balança de pagamentos dos EUA, especialmente os défices de transacções correntes. Isto envolveu uma depreciação pronunciada do dólar em comparação ao euro e ao yen. Os desequilíbrios externos dos Estados Unidos, os quais ainda têm à sua disposição a divisa do sistema monetário internacional, foram compensados pelas sempre crescentes influxos sustentáveis de capital do resto do mundo, China inclusive. Até agora, Washington tem sido capa de forçar todos – desde os seus parceiros do Norte (Europa e Japão) até os seus potenciais rivais do Sul (como os BRICS e, especialmente, a China) – a enviar capital para os Estados Unidos; mas por quanto tempo mais?
A crise foi provocada pela dinâmica que jaz no cerne da própria economia estado-unidense. Por um lado, há uma reequilibragem destes desequilíbrios internos e externos pela drenagem para o exterior de capital estrangeiro duradouro numa escala internacional. Isto pode ser visto como uma operação das classes dominantes dos EUA, absorvendo riqueza do resto do mundo. Por outro lado, causou a maior concentração de riqueza dentro do país em um século. Isto pode ser mostrado por algumas estatísticas: do total de rendimentos nos Estados Unidos, a fatia de rendimento monopolizada pelos 1% mais ricos era de 10% em 1979; em 2009, era de 25%; a proporção dos 10% mais ricos era de um terço do total de rendimentos trinta anos atrás; agora, elevou-se à metade. A tremenda ascensão em lucros financeiros – através da acumulação de capital fictício – pelas classes dominantes deformou a economia dos EUA tomada como um todo. A taxa de poupança, por exemplo, tornou-se negativa pouco antes da crise (Herrera, 2011b).
Alguns dos principais factores que explicam a crise são "reais" e ligados à austeridade: a crise subprime, na qual muitas famílias pobres encontraram-se em incumprimento, também pode ser analisada pelas políticas de austeridade conduzidas ao longo de mais de 30 anos, as quais diminuíram salários, tornaram o emprego flexível e precário, estenderam o desemprego a uma escala maciça, degradaram condições de vida – políticas ditas neoliberais, que desaceleraram os motores que criam procura e tornaram-na artificial, portanto insustentável. Assim, este regime tem mantido o crescimento pela promoção da procura para consumo privado, enquanto afrouxava e aumentava linhas de crédito. Este boom sem precedentes no sistema de crédito revelou a crise de sobre-acumulação na sua versão actual. Numa sociedade onde um número crescente de indivíduos são excluídos ou deixados sem direitos, expandir oportunidades disponíveis para donos de capital só podia atrasar a desvalorização de fundos excedentes investidos em mercados financeiros – mas não evitá-la.
Uma das manifestações da crise foi uma destruição brutal de capital fictício. Em 2008, a capitalização das bolsas de valores mundiais caiu de 48,3 para 26,1 milhões de milhões de dólares. Esta espiral descendente no valor dos activos foi acompanhada por uma perda de confiança e uma situação de iliquidez no mercado inter-bancário – sendo explicação mais provável uma insolvência de muitos bancos. Consequentemente, num contexto onde os preços de derivativos compósitos e os riscos que transportam eram cada vez mais mal avaliados, os problemas mudaram-se do sector habitacional subprime para aquele dos créditos de créditos, a seguir para empréstimos solventes (primes), antes do estouro da bolha das ferramentas ligadas a hipotecas habitacionais contaminarem os outros sectores dos mercados financeiros e, a partir dali, do próprio mercado monetário.
Para além da destruição de capital fictício que leva a quedas drásticas na capitalização de mercado, [2] é todo o sistema de financiamento da economia que ficou bloqueado. Portanto, as economias entraram em depressão conjunturalmente a partir de 2007 – mas também, por razões estruturais, num mundo onde pico foi atingido para centros recursos naturais estratégicos (dentre eles, o petróleo) e onde a busca de novas fontes de energia coloca limites objectivos ao crescimento, tudo isto dando origem a pressões para guerras. Em consequência, os indicadores económicos foram afectados: quedas na taxa de crescimento do PIB (Figuras 1 e 2), no consumo familiar e no comércio externo, défices de exploração para numerosas empresas, desemprego, perdas no sector habitacional, etc.
Multiplicaram-se bancarrotas de empresas e afectaram alguns líderes em sectores industriais que registaram perdas abissais (General Motors, por exemplo). Daí a explosão da taxa de desemprego para mais de 10% da força de trabalho no quarto trimestre de 2009. Seguindo a definição oficial e bastante restritiva, o desemprego atingiu aproximadamente 15 milhões de pessoas em 2010 (Figura 3). E sua estrutura deteriorou-se: a proporção de desempregados a longo prazo aumentou drasticamente a partir do segundo semestre de 2008. Os sectores de produção tradicionais foram os mais gravemente afectados (indústria, construção, agricultura); e as comunidades afro-americana e hispânica – ou "raças", conforme o vocabulário padrão da administração dos EUA – sofreram mais do que outras. Simultaneamente, os lucros total corporativos apropriados por todos os oligopólios estado-unidenses da alta finança – isto é, utilizando a mesma terminologia, as instituições financeiras interna, incluindo sectores das finanças, banca e seguros – recuperaram-se muito rapidamente, retornando em 2009 para o mesmo nível de 2001 e então, no fim de 2010, para o mesmo nível de lucros do momento anterior ao estalar da crise (Figura 4).
Uma das principais características do caminho neoliberal era, até a economia ter implodido, uma baixa taxa de acumulação nos Estados Unidos. Em 2000, a seguir à alta em valor conduzida pelas novas tecnologias de informação e comunicação, a queda provocada pelo estouro da bolha da "nova economia", causou um acentuado arrefecimento da actividade económica. Durante os mandatos de George W. Bush, o crescimento do PIB nunca foi superior à taxa de 2,5% em qualquer ano. Esta taxa declinou outra vez durante o Verão de 2007 e entrou em colapso no segundo semestre de 2008, com a "crise financeira" no sector imobiliário propagando-se a toda a economia. Desde o fim de 2006, os ganhos de produtividade registados após o aumento temporário durante o episódio da "nova economias" desaceleraram-se e convergiram rumo à sua muito mais moderada tendência de longo prazo.
Alguns aspectos preocupantes da crise estão ligados à elevada dívida pública, particularmente aquela do governo federal, o qual "nacionalizou" parcialmente dívidas privadas. Há também a contrapartida externa deste processo conduzido pelo endividamento maciço, isto é, a deterioração da balança de pagamentos dos EUA, especialmente os défices de transacções correntes. Isto envolveu uma depreciação pronunciada do dólar em comparação ao euro e ao yen. Os desequilíbrios externos dos Estados Unidos, os quais ainda têm à sua disposição a divisa do sistema monetário internacional, foram compensados pelas sempre crescentes influxos sustentáveis de capital do resto do mundo, China inclusive. Até agora, Washington tem sido capa de forçar todos – desde os seus parceiros do Norte (Europa e Japão) até os seus potenciais rivais do Sul (como os BRICS e, especialmente, a China) – a enviar capital para os Estados Unidos; mas por quanto tempo mais?
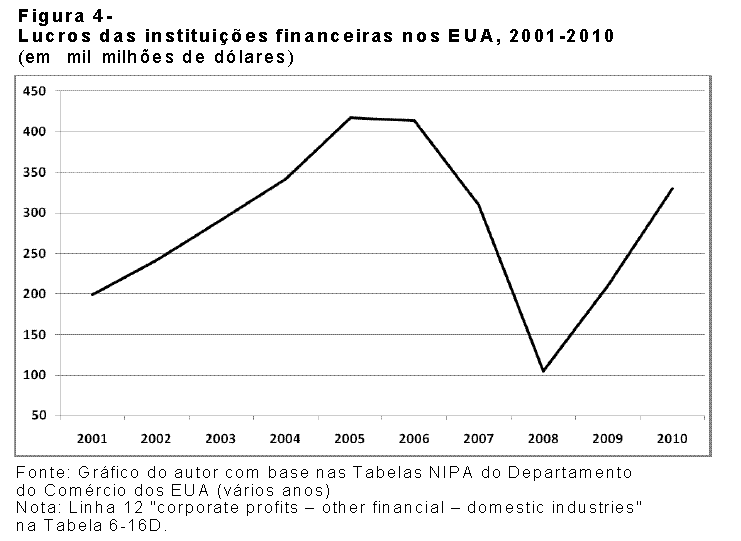


Politicas anti-crise e guerra de divisas
A primeira tentativa do governo americano para contrapor-se à crise consistiu em coordenar as acções dos bancos centrais para injectar liquidez no mercado inter-bancário. Fez isto através da criação de moeda primária, oferecendo linhas especiais de crédito aos bancos líderes primários e reduzindo taxas de juros. Um ponto de viragem verificou-se depois de as autoridades monetárias evitarem intervir durante a bancarrota do Lehman Brothers em meados de Setembro de 2008. Dentro de poucas horas, o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve fizeram um giro de 180º: um certo número de instituições financeiras em perigo (como a companhia de seguros AIG) foram nacionalizadas – geralmente sem que o governo obtivesse o direito de voto ou qualquer controle acrescido –, vendas a descoberto foram temporariamente suspensas na Grã-Bretanha, a seguir nos Estados Unidos; o Fede abriu enormes linhas de crédito para os dealers primários em condições especiais, com taxas de juro de quase zero; o governo ajudou estes estabelecimentos privados a organizarem a tomada de grupos em bancarrota e a recapitalizá-los...
Por outras palavras, o governo federal apoiou fortemente os esforços dos oligopólios financeiros para concentrar a propriedade e o controle do capital, levando à hiper-centralização. O Citigroup tomou o Lehman Brothers, o Bank of America tomou o Merrill Lynch, o Morgan tomou o banco de poupanças Washington Mutual, etc. Foi criado um "cancelamento" ("defeasance") de fundos, de modo que o estado garantisse títulos "tóxicos". Finalmente – isto foi a medida crucial – em Outubro de 2008 o Fed estendeu sua organização de linhas swap ou "disposições temporárias recíproca sobre divisas" aos bancos centrais nos maiores países do Norte bem como do Sul (México, Coreia do Sul, ...), tornando-as quase "ilimitadas" (Herrera, 2010b).
A seguir, houve o planos Paulson Nº 1 e Nº 2 e os programas para o apoio geral à economia estado-unidense (incluindo a General Motors, sem impedir despedimentos maciços) – e, pelo caminho, a recapitalização do Fed, o qual estava no fim do seus recursos... Contudo, no princípio de 2011, o presidente do Federal Reserve advertiu tanto o Tesouro como o Congresso dos EUA de que a sua instituição não continuaria a financiar défices públicos extra, que tinha de haver um retorno a maior rigor e que as taxas de juro tinham de ser aumentadas...
No entanto, uma ascensão da taxa de juro envolveria dois grandes riscos: para os Estados Unidos, que o fardo da dívida pública se tornasse ainda mais pesado e a sua dinâmica incontrolável; e para o resto do mundo, que os fluxos de capital que o abandonam recomeçassem a financiar os défices nos Estados Unidos, permitindo-lhes continuarem a viver mais uma vez acima dos seus meios.
Dentre os mais gritantes efeitos da crise actual está a exacerbação de uma "guerra de divisas". Num ambiente altamente incerto, a criação maciça de moeda e a fixação de taxas de juro apenas acima de zero, juntamente com enormes défices fiscais – o défice orçamental correspondente a aproximadamente 10% do PIB nos Estados Unidos (Figura 6) – e o aumento desproporcionado da dívida pública (Figura 7), tudo isto provocou uma depreciação do US dólar e uma "guerra de divisas". Esta última a esta altura está a ser paradoxalmente vencida pelo próprio dólar, pela razão fundamental de que os Estados Unidos têm à sua disposição uma arma extraordinária: seu banco central pode criar montantes quase ilimitados de moeda a qual é aceite por todos os países estrangeiros, porque até agora o dólar permanece a divisa de reserva mundial.
Isto permite aos Estados Unidos imporem sobre o resto do mundo os termos de uma capitulação que os obrigas a prosseguirem políticas neoliberais, bem como a suportar a taxa de câmbio do dólar que melhor se adeque à estratégia de dominação dos EUA – mesmo se isto implicar uma depreciação imediata das enormes reservas de divisas mantidas pelas autoridades monetárias de outros países, como o BRICS. O problema com tal estratégia é que, durante anos, o défice comercial e a produção interna dos EUA reagiram pouco ao rebaixamento do valor do dólar: isto resulta num fraco crescimento económico nos Estados Unidos, numa situação que tem piorado porque agora as causas das dificuldades decorrem de todo o sistema de financiamento da economia.
Os efeitos da actual crise sistémica variam conforme as características das economias do Sul e o grau da sua integração no sistema capitalista mundial. Alguns países estão tão excluídos e presos em armadilhas de pobreza que a crise parece não afectá-los. Mas, na realidade, é impressionante para todos eles, sejam eles "emergentes" ou não. Fundamentalmente, parece que todas as condições estão a combinar-se de modo que uma grande consequência da crise poderia ser um aprofundamento da confrontação Norte-Sul – apesar dos recentes movimentos do G20 para "cooptar" países sulistas – num mundo em que os níveis das contradições estão a tornar-se cada vez mais complexos.
No Sul, uma grande maioria de governos optou por continuar a manter o capitalismo – ou uma das suas variantes – em vigor. No entanto, nossa opinião é que esta estratégia não é solução. É impossível no Sul resolver as profundas contradições produzidas pelo sistema capitalista (por exemplo, aquelas devidas à recusa de acesso à terra a camponeses), e isto leva os países sulistas a entrarem em conflito com as potências do Norte. Isto é claramente o caso num período em que são necessárias transferências de capital em direcção aos Estados Unidos, em ainda maiores proporções, para travar a espiral de desvalorização de capital fictício.
Estas transferências do Sul em direcção aos Estados Unidos operam através de diferentes canais: repatriação de lucros de investimentos directos estrangeiros ou de carteira de investimentos; reembolso de dívidas externas, transformação de reservas oficiais em créditos (concedidos aos Estados Unidos), intercâmbio desigual, mas também fugas de capital, corrupção... (Nakatani e Herrera, 2007). É provável que tais transferências em breve tenham de acelerar-se para garantir o resgate da alta finança e evitar bancarrotas nos centros capitalistas. Tudo isto se verifica enquanto os Estados Unidos tem o arsenal militar necessário para impor esta drenagem de capital duradouro do resto do mundo (Figuras 7, 8 e 9).
A primeira tentativa do governo americano para contrapor-se à crise consistiu em coordenar as acções dos bancos centrais para injectar liquidez no mercado inter-bancário. Fez isto através da criação de moeda primária, oferecendo linhas especiais de crédito aos bancos líderes primários e reduzindo taxas de juros. Um ponto de viragem verificou-se depois de as autoridades monetárias evitarem intervir durante a bancarrota do Lehman Brothers em meados de Setembro de 2008. Dentro de poucas horas, o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve fizeram um giro de 180º: um certo número de instituições financeiras em perigo (como a companhia de seguros AIG) foram nacionalizadas – geralmente sem que o governo obtivesse o direito de voto ou qualquer controle acrescido –, vendas a descoberto foram temporariamente suspensas na Grã-Bretanha, a seguir nos Estados Unidos; o Fede abriu enormes linhas de crédito para os dealers primários em condições especiais, com taxas de juro de quase zero; o governo ajudou estes estabelecimentos privados a organizarem a tomada de grupos em bancarrota e a recapitalizá-los...
Por outras palavras, o governo federal apoiou fortemente os esforços dos oligopólios financeiros para concentrar a propriedade e o controle do capital, levando à hiper-centralização. O Citigroup tomou o Lehman Brothers, o Bank of America tomou o Merrill Lynch, o Morgan tomou o banco de poupanças Washington Mutual, etc. Foi criado um "cancelamento" ("defeasance") de fundos, de modo que o estado garantisse títulos "tóxicos". Finalmente – isto foi a medida crucial – em Outubro de 2008 o Fed estendeu sua organização de linhas swap ou "disposições temporárias recíproca sobre divisas" aos bancos centrais nos maiores países do Norte bem como do Sul (México, Coreia do Sul, ...), tornando-as quase "ilimitadas" (Herrera, 2010b).
A seguir, houve o planos Paulson Nº 1 e Nº 2 e os programas para o apoio geral à economia estado-unidense (incluindo a General Motors, sem impedir despedimentos maciços) – e, pelo caminho, a recapitalização do Fed, o qual estava no fim do seus recursos... Contudo, no princípio de 2011, o presidente do Federal Reserve advertiu tanto o Tesouro como o Congresso dos EUA de que a sua instituição não continuaria a financiar défices públicos extra, que tinha de haver um retorno a maior rigor e que as taxas de juro tinham de ser aumentadas...
No entanto, uma ascensão da taxa de juro envolveria dois grandes riscos: para os Estados Unidos, que o fardo da dívida pública se tornasse ainda mais pesado e a sua dinâmica incontrolável; e para o resto do mundo, que os fluxos de capital que o abandonam recomeçassem a financiar os défices nos Estados Unidos, permitindo-lhes continuarem a viver mais uma vez acima dos seus meios.
Dentre os mais gritantes efeitos da crise actual está a exacerbação de uma "guerra de divisas". Num ambiente altamente incerto, a criação maciça de moeda e a fixação de taxas de juro apenas acima de zero, juntamente com enormes défices fiscais – o défice orçamental correspondente a aproximadamente 10% do PIB nos Estados Unidos (Figura 6) – e o aumento desproporcionado da dívida pública (Figura 7), tudo isto provocou uma depreciação do US dólar e uma "guerra de divisas". Esta última a esta altura está a ser paradoxalmente vencida pelo próprio dólar, pela razão fundamental de que os Estados Unidos têm à sua disposição uma arma extraordinária: seu banco central pode criar montantes quase ilimitados de moeda a qual é aceite por todos os países estrangeiros, porque até agora o dólar permanece a divisa de reserva mundial.
Isto permite aos Estados Unidos imporem sobre o resto do mundo os termos de uma capitulação que os obrigas a prosseguirem políticas neoliberais, bem como a suportar a taxa de câmbio do dólar que melhor se adeque à estratégia de dominação dos EUA – mesmo se isto implicar uma depreciação imediata das enormes reservas de divisas mantidas pelas autoridades monetárias de outros países, como o BRICS. O problema com tal estratégia é que, durante anos, o défice comercial e a produção interna dos EUA reagiram pouco ao rebaixamento do valor do dólar: isto resulta num fraco crescimento económico nos Estados Unidos, numa situação que tem piorado porque agora as causas das dificuldades decorrem de todo o sistema de financiamento da economia.
Os efeitos da actual crise sistémica variam conforme as características das economias do Sul e o grau da sua integração no sistema capitalista mundial. Alguns países estão tão excluídos e presos em armadilhas de pobreza que a crise parece não afectá-los. Mas, na realidade, é impressionante para todos eles, sejam eles "emergentes" ou não. Fundamentalmente, parece que todas as condições estão a combinar-se de modo que uma grande consequência da crise poderia ser um aprofundamento da confrontação Norte-Sul – apesar dos recentes movimentos do G20 para "cooptar" países sulistas – num mundo em que os níveis das contradições estão a tornar-se cada vez mais complexos.
No Sul, uma grande maioria de governos optou por continuar a manter o capitalismo – ou uma das suas variantes – em vigor. No entanto, nossa opinião é que esta estratégia não é solução. É impossível no Sul resolver as profundas contradições produzidas pelo sistema capitalista (por exemplo, aquelas devidas à recusa de acesso à terra a camponeses), e isto leva os países sulistas a entrarem em conflito com as potências do Norte. Isto é claramente o caso num período em que são necessárias transferências de capital em direcção aos Estados Unidos, em ainda maiores proporções, para travar a espiral de desvalorização de capital fictício.
Estas transferências do Sul em direcção aos Estados Unidos operam através de diferentes canais: repatriação de lucros de investimentos directos estrangeiros ou de carteira de investimentos; reembolso de dívidas externas, transformação de reservas oficiais em créditos (concedidos aos Estados Unidos), intercâmbio desigual, mas também fugas de capital, corrupção... (Nakatani e Herrera, 2007). É provável que tais transferências em breve tenham de acelerar-se para garantir o resgate da alta finança e evitar bancarrotas nos centros capitalistas. Tudo isto se verifica enquanto os Estados Unidos tem o arsenal militar necessário para impor esta drenagem de capital duradouro do resto do mundo (Figuras 7, 8 e 9).





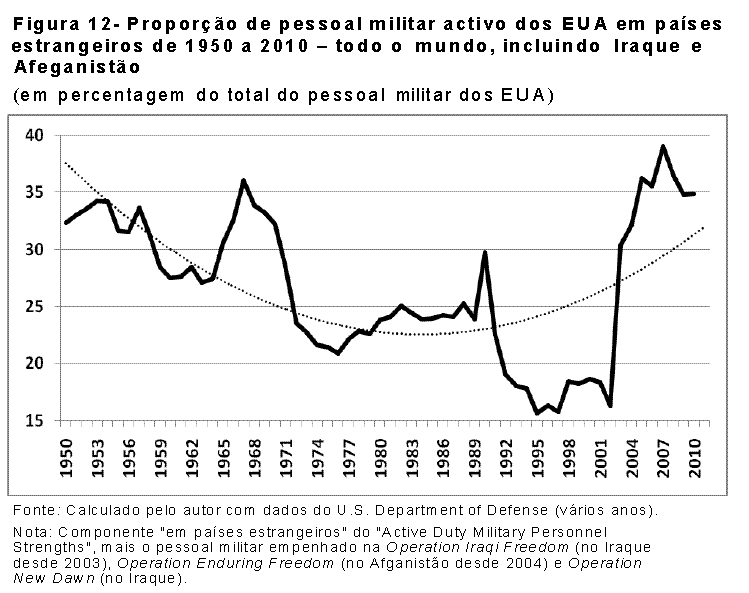

Tabela 1- Principais companhias de armamento no mundo em 2010
|
|
|
|
(mil milhões de dólares) |
| 1 | Lockheed Martin | Estados Unidos | 42.025 |
| 2 | BAE Systems | Reino Unido | 33.418 |
| 3 | Boeing | Estados Unidos | 31.932 |
| 4 | Northrop Grumman | Estados Unidos | 30.656 |
| 5 | General Dynamics | Estados Unidos | 25.904 |
| 6 | Raytheon Co. | Estados Unidos | 23.139 |
| 7 | EADS | Holanda | 15.013 |
| 8 | Finmeccanica | Itália | 13.332 |
| 9 | L-3 Communications | Estados Unidos | 13.014 |
| 10 | United Technologies | Estados Unidos | 11.100 |
| 11 | SAIC | Estados Unidos | 8.400 |
| 12 | Thales | França | 8.032 |
| 13 | ITT | Estados Unidos | 6.097 |
| 14 | KBR | Estados Unidos | 5.410 |
| 15 | Honeywell | Estados Unidos | 5.382 |
Guerra permanente
A administração Obama planeia reduzir o défice fiscal do
governo federal em cerca de 500 mil milhões de dólares em 2013,
graças às poupanças do fim da guerra no Iraque – a
qual supostamente excederia os custos do reposicionamento de tropas no
Afeganistão. No entanto, o facto é que o presidente Obama e sua
equipe não reverteram a lógica das "guerras
preventivas" conduzidas pelo seu antecessor – ao contrário do
que ele havia sugerido durante a sua campanha eleitoral – e os Estados
Unidos não cessaram de "regular" o sistema capitalista mundial
através de guerras militares. A crise está estreitamente ligada a
estas guerras (Herrera, 3007, 2010b, 2011b). Elas estão integradas no
ciclo, de um ponto de vista económico, como formas extremas de
destruição de capital, mas também politicamente para a
reprodução das condições do comando de
fracções da classe dominante – isto é, alta
finança – sobre o sistema mundial. Veremos na próxima
secção como os oligopólios financeiros lançaram
recentemente um assalto ao complexo militar-industrial dos Estados Unidos [que]
lhes deu um controle decisivo sobre este sector. Como matéria de facto,
o capital financeiro apossou-se de suficientes acções comerciadas
publicamente de corporações do complexo militar-industrial para
assumir o seu controle.
A despesa militar tornou-se uma grande fonte de lucros para o capital num
contexto no qual a utilização de forças armadas é a
estratégia imposta sobre o mundo pela alta finança dos EUA como
condição para a sua reprodução. A
militarização está a tornar-se o modo de existência
para o capitalismo. E aqui, o papel do estado (neoliberal) é fundamental
para o capital – porque é o estado que vai à guerra no
interesse do capital, enquanto as agências governamentais atribuem
montantes astronómicos de contratos militares às companhias
transnacionais de armamento, através do seu lobbying (Mampaey e Serfati,
2004).
Dever-se-ia observar que os Estados Unidos lançaram suas guerras contra
o Afeganistão e o Iraque num momento muito específico. Quanto ao
Afeganistão, o ano de 2001 já era um tempo de crise – tal
como 1913 e 1938 foram anos de depressão que antecederam as Guerras
Mundiais. A crise actual emergiu exactamente quando estavam a ter lugar
mudanças na política monetária estado-unidense,
seguindo-se o agravamento dos desequilíbrios internos e externos –
o primeiro, devido à necessidade de financiamento ligado parcialmente a
estas guerras; o segundo devido em parte ao
outsourcing,
acima de tudo para a China. Portanto, a seguir ao arrefecimento do crescimento
económico em 2000, o Fed reduziu grandemente sua taxa de juro: de 6,50%
em Dezembro de 2000 para 1,75% em Dezembro de 2001, a seguir para 1,00% em
meados de 2003, e ela foi mantida a este nível muito baixo até
meados de 2004. Foi precisamente neste momento, quando as taxas de juro reais
haviam-se tornado negativas, que os mecanismos da crise subprime foram gerados,
com cada vez maior tomada de risco, especialmente no sector habitacional.
Então, devido à pressão agravada causada pelo
esforço de guerra, o Fed (dentre outras decisões, mas de modo
significativo) teve de elevar a taxa de juro dos seus 1,00% de meados de 2004
(isto é, um ano após o começo da guerra no Iraque) para
5,25 em meados de 2006. E logo após, a partir do fim de 2006,
começou um incumprimento maciço de pagamentos de hipotecas por
parte dos devedores – os seus números a aumentarem devido à
contracção do crescimento e à estagnação dos
salários.
A Reserva Federal manteve esta ligeiramente alta taxa de juro, acima de 5%,
até meados de 2007, embora os sinais da crise já fossem
aparentes. Foi só em Agosto de 2007, portanto muito tardiamente, que o
Fed começou a dar aos bancos quantidades de crédito a taxas
reduzidas, taxas prenda, próximas do zero; este passo, contudo,
não conseguiu impedir novos pânicos financeiros. Portanto, a crise
explodiu quando uma massa crítica de devedores tinha dificuldades em
reembolsar seus empréstimos. Foi este o caso no fim de 2006, depois de o
Fed ter elevado suas taxas de juro para atrair o capital a fim de financiar os
orçamentos militares que haviam sido inchados por novas guerras.
Considerando tudo, não houve vitória militar para os Estados
Unidos, nem qualquer ressuscitar da acumulação apesar da
destruição provocada por estes conflitos. Ao contrário, o
prosseguimento de tais guerras, desde a Líbia, via NATO, até o
Iémen, onde em Junho de 2011 o presidente Obama convidou o
Pentágono e a CIA a colaborarem estreitamente, está a exacerbar
as contradições ainda mais...
A marcha forçada da sociedade iraquiana rumo ao neoliberalismo,
começada imediatamente depois de este país ser ocupado,
proporciona um "exemplo de tipo ideal" das consequências
económicas desta violência. Sem qualquer direito ao Iraque e aos
seus recursos, a coligação de ocupação conduzida
pelos Estados Unidos (e o Reino Unido) impôs a plena
privatização de serviços públicos e uma
mudança correspondente na estrutura de propriedade do capital de mais de
200 companhias (nos sectores da água, electricidade, telefone,
estações de televisão, ferrovias, aeroportos,
hospitais...) a fim de entregá-las a firmas transnacionais sob o
pretexto da "reconstrução".
Para este objectivo, Lewis Paul Bremer, o administrador civil da autoridade
provisória, então nomeado pelo presidente George W. Bush, durante
os seus 13 meses no gabinete [emitiu] cerca de 100 ordens (chamadas
"Coalition Provisional Authority Orders"), as quais serviam como
substitutos de leis nacionais – mas sem qualquer controle
democrático. As companhias transnacionais estado-unidenses (e
britânicas) obtiveram aproximadamente 85% de todos os contratos
adjudicados. A Ordem 17 defendia os direitos de ocupantes legais e seus
subcontratantes, suplementada pela Ordem Executiva 13303, a qual os protegia
contra eventual processo nos Estados Unidos. O diploma isentava as 38 firmas na
coligação de impostos de importação, ao passo que a
Ordem 39 permitia propriedade estrangeira de até 100% em propriedades de
terra e companhias iraquianas e não estabelecia restrições
à repatriação de investimentos financeiros e lucros no
Iraque. A Ordem 400 permitia a estrangeiros comprarem bancos locais. A Ordem 81
impunha a privatização de recursos biológicos, o
patenteamento da vida (para sementes agrícolas) e a
liberalização dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs). Em
Fevereiro de 2004, o Iraque tornou-se observador na Organização
Mundial de Comércio, antes de preencher sua candidatura a membro pleno,
num "procedimento de emergência). Em consequência, a guerra no
Iraque transformou este país, em meses, numa das mais neo-liberalizadas
economias do mundo.
[3]
A alta finança e os militares
Em 2010 as despesas militares nos Estados Unidos foram de aproximadamente 700
mil milhões de dólares (Figura 7), isto é, pouco mais de
5% do PIB, a ser comparado com 6% para educação (Figura 8). Isto
representou cerca de um quinto do orçamento federal e quase 44% das
despesas militares mundiais (Figura 9). Contudo, o fardo real é
significativamente maior. Na verdade, algumas estimativas consideram que o
total de despesas militares dos EUA, incluindo pagamentos de juros sobre
dívidas a elas associadas, actualmente excederia 1,0 ou memo 1,1
milhão de milhões de dólares (Foster e Magdoff, 2009).
Mesmo este ajustamento para cima, o "fardo militar" (isto é, a
proporção da defesa no PIB) subestima a importância
efectiva do sector da defesa na economia americana. Também é
necessário avaliar a força destrutiva e o alcance das armas do
Pentágono, incluindo o impacto da sua rede mundial de bases militares.
Qualquer que seja o critério escolhido para medir a extensão da
militarização – incluindo a I&D da defesa (Figura 10) ou
despesas de capital dos militares (Figura 11), a superioridade dos EUA é
clara.
Não há escassez de modernos "aproveitadores"
("profiteers")
da guerra, incluindo oficiais sénior na activa e na reforma, membros de
comités do Congresso sobre gastos de defesa e administradores de topo de
companhias de armamento, cujas actividades de lobbying obtiveram-lhes
lucrativos contratos militares das várias agências governamentais.
Aqui estão, em geral, as principais firmas transnacionais produtoras de
armas, com vendas astronómicas e contratos de vários milhares de
milhões de dólares para cada uma delas, como Lockheed Martin,
Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L-3 Communications, Raytheon,
United Technologies, SAIC, ITT, Kellogg Brown & Root, Honeywell, General
Electric, ITT, Computer Sciences, etc. (Tabela 1); e mais especificamente,
aqueles entre elas que beneficiaram dos contratos adjudicados no Iraque e no
Afeganistão: a KBR outra vez (com 14,4 mil milhões de
dólares entre meados de 2002 e meados de 2004), a Parsons (5,3 mil
milhões no mesmo período), Fluor (3,8 mil milhões),
Washington Group (3,1), Shaw Group E&I (3,0), Bechtel (2,8), Perini (2,5),
Contrack (2,3), mas também a Tetra Tech, USA Environmental, CH2M Hill,
American International Contractors (com cerca de 1,5 mil milhões de
dólares respectivamente), e assim por diante (Herrera, 2010b).
O ponto fundamental a ser sublinhado aqui é que o capital financeiro
continua a fortalecer a sua recente e bastante rápida ascendência
sobre o complexo militar-industrial dos EUA. Isto pode ser visto quando
investidores institucionais, eles próprios dependentes dos mais
poderosos oligopólios bancários e financeiros dos EUA, capturaram
a estrutura de propriedade do capital destas companhias militares. No
princípio dos anos 2000, a proporção controlada pelo
capital financeiro alcançou 95,0% do capital a Lockheed Martin, 86,5% do
da Engineered Support Systems, 85,9% da Stewart & Stevenson Services, 84,7% da
L-3 Communications, 82,8% da Northrop Grumman, 76,0% da General Dynamics, 70,0%
da Raytheon, 66,0% da Titan, 65,0% da Boeing, etc.
Analogamente, quando o governo "externaliza" cada vez mais o seu
negócio da defesa, uma fatia crescente de companhias militares privadas
fica sob o controle da finança. Por exemplo, a DynCorp foi comprada pela
companhia de software Computer Sciences Corp. em 2003 e, dois anos depois,
tornou-se propriedade do fundo de acções privado Veritas Capital.
Anteriormente, em 2000, a L-3 Communications Holdings controlou a MPRI. Uma
consequência destas tomadas de controle é que cidadãos
comuns participam (muitas vezes sem o seu conhecimento) na propriedade de uma
companhia militar cujas actividades vão desde as missões de
mercenários até o "interrogatório" de
prisioneiros... No fim de 2006, sua colaboração foi recompensada.
O MPRI obteve um contrato para apoiar o U.S. Army no
Iraque e no Afeganistão; os preços oficiais das
acções comuns das firmas associadas e da sua companhia mãe
dispararam para cima. Outra companhia militar privada, a Vinnell, cuja
lucratividade atraiu tanto interesse que os seus proprietários mudaram
várias vezes nos últimos anos, havia sido comprada anteriormente
pelo grupo financeiro Carlyle... (Cicchini e Herrera, 2008).
O número de agentes empregues por companhias militares privadas no
Iraque atingiu os 182 mil em 2008, ou seja, um número maior do que
aquele do pessoal militar americano no Exército, Marinha, Corpo de
Fuzileiros Navais e Força Aérea somados (Figuras 12 e 13).
Naquela época, o número total de combatentes paramilitares
privados em actividade era aproximadamente de 75 mil, os quais deles faria o
segundo mais numeroso contingente empenhado no conflito, muitos mais do que as
tropas estrangeiras aliados aos Estados Unidos (aproximadamente 23 mil
soldados). Integrados na "Total Force", eles são empregados
por aproximadamente 300 companhias privadas, tais como KBR, Blackwater USA,
MPRI, Vinnell, DynCorp, Control Risks, Pacific Architects & Engineers, Custer
Battle, Titan, ArmorGroup, California Analysis Center, etc. Tomadas como um
todo, estas firmas partilhariam vendas anuais de mais de 100 mil milhões
de dólares. O seu maior cliente é obviamente o estado
(neoliberalizado), o qual transformou tanto o Afeganistão como o Iraque
em sítios privilegiados de acção para este novo
"mercado de guerra"que se abriu após 11 de Setembro de 2001
com o lançamento da "Guerra Global ao Terror".
No entanto, tais mudanças geraram novas contradições
económicas e políticas, ainda mais profundas do que aquelas que
provocaram as mudanças. A ineficácia desta estratégia de
"privatização da segurança" é cada vez
mais aparente do Iraque, bem como no Afeganistão; ela não
"minimiza custos" e nem tão pouco faz vencer estas guerras.
Alguns economistas estimam que os custos financeiros destas guerras são
demasiado altos...
[4]
O que quer seja poupado ao recrutar mercenários experientes – ao
invés de treinar novos recrutas – é perdido devido às
altas quantias pagas a firmas militares com fundos públicos. E os
escândalos são conhecidos: sobrecarregar preços ou contrato
por administração
("cost plus"),
ausência de competição sob o pretexto de "acordos
secretos" com o Pentágono ou a CIA, dupla contabilidade e
pagamentos por serviços que não são executados, conluio
duvidoso de accionistas, além de abusos repetidos (que vão desde
a tortura até crimes impunes de mercenários)... Têm sido
observados conflitos entre soldados do exército regular e
mercenários privados – sendo os últimos mais bem pagos, com
melhores "condições de trabalho" e muitas vezes
escapando a penalidades legais...
A exacerbação das contradições dentro do sistema
capitalista
Entretanto, o fracasso desta nova "parceria público-privado"
é completo, como também é o caso da própria
estratégia de guerra permanente. Esta não impediu o ressurgimento
de protestos e resistências dentro do exército. Hoje, a
oposição às guerras é parcialmente organizada pelo
IVAW, ou "Iraq Veterans Against the War", movimento fundado pela
convenção de Veteranos pela Paz efectuada em Boston em Julho de
2004 a fim de encorajar as vozes de pessoal activo e veteranos que recusam a
guerra no Iraque, mas forçados a manterem-se silenciosos. O
espírito de rebelião da antiga "Resistência dentro do
Exército" ("Resistance Inside The Army", RITA), durante a
guerra do Vietname, exala-se no seu manifesto. Desde o princípio da
guerra no Iraque, mais de meio milhão de soldados americanos fizeram
pelo menos uma missão ali. Segundo dados estatísticos oficias,
entre Março de 2003 e Julho de 2008, 4.124 deles foram mortos (num total
de 4.438 mortos entre todas as tropas da coligação). Fontes
alternativas
[5]
, que descrevem os artifícios utilizados pelas autoridades militares
para reduzir o número de baixas tornadas públicas, sugerem
números muito mais elevados...
Depois de ter anunciado a retirada do Iraque ao longo de 19 meses a
começar em Fevereiro de 2009, e o reposicionamento de tropas no
Afeganistão, o desafio do presidente Barack H. Obama será tentar
amortecer o impacto destas decisões no interior da sociedade
estado-unidense. Os efeitos da procura efectiva associados às guerras no
Iraque e no Afeganistão afectam essencialmente o curto prazo, e os
efeitos tecnológicos são positivos somente para o complexo
militar-industrial, o qual é claramente insuficiente para restaurar o
crescimento sustentável. A destruição de capital provocada
por estas guerras – considerável para os povos que sofrem estes
conflitos – não revitalizará a acumulação no
centro da economia hegemónica do sistema capitalista mundial, como foi o
caso durante a reconstrução conduzida pelo Plano Marshall
após a II Guerra Mundial. Para ser capaz de recomeçar um ciclo de
expansão de acumulação de capital de longa
duração no Norte, a crise teria de "destruir" montantes
absolutamente gigantescos de capital fictício, a maior parte dele sendo
parasitário. Contudo, as contradições profundas que
caracterizam o sistema capitalista tornaram-se agora tão difíceis
de resolver uma tal desvalorização poderia impelir ao colapso.
Pensadores ortodoxos também acreditam que a crise actual levará
ao colapso do capitalismo, como, por exemplo, os analistas do
Global Europe Anticipation Bulletin,
cujas previsões acerca do agravamento da situação levam
à total deslocação geopolítica do sistema, à
queda do dólar e ao desaparecimento das bases do sistema financeiro
globalizado; ou, nos Estados Unidos, aquelas [análises] de
Money&Markets,
que prevêem o futuro aprofundamento da crise numa sequência mais
tradicional: ampliação do défice fiscal, inchaço da
dívida pública, defesa insuficiente do dólar pelas
autoridades monetárias dos EUA... Por agora, o agravamento da
situação mina um pouco mais a hegemonia unipolar dos Estados
Unidos.
A esta luz, uma pequena mas significativa minoria entre as correntes pensamento
dominantes continua a ser cada vez mais radical no seu apoio a teses
ultra-liberais, inspiradas do von Mises, Hayek ou Rothbard.
[6]
Suas análises da crise baseiam-se numa fé reafirmada no
carácter automático do reequilíbrio do mercado. Isto
é aborrecido para os neoliberais, na medida em que estes ultra-liberais
defendem a ideia de que a crise decorre de um excesso de intervencionismo e que
o estado não deveria salvar os bancos e companhias em dificuldade. O que
precisa ser feito, segundo eles, é por um fim às
regulações do estado que limitam a liberdade dos agentes nos
mercados. Estes autores são portanto contra qualquer plano anti-crise e,
em particular, contra qualquer regulação das taxas de juro pelo
banco central. Os mais extremistas entre eles chegam até a apelar pela
supressão das instituições do estado – incluindo o
exército – bem como a privatização da moeda. Ainda
que estejam conscientes de que tais medidas empurrariam o capitalismo rumo ao
caos, eles pensam que, graças a mecanismos de mercado, este caos
beneficiaria o capital e o capitalismo reconstituir-se-ia a si próprio
mais rapidamente e melhor do que através de intervenções
do estado na forma de assistência pública artificial a empresas
que em qualquer caso estão condenadas a fracassar.
Paralelamente, a gravidade da crise tem favorecido um retorno a teses
"reformistas" (Krugman, 2009). De facto, enquanto medidas
"keynesianas" eram perceptíveis – inclusive no plano de
G.W. Bush de 2008, por exemplo (com sua entrega de parte dos impostos) e, acima
de tudo, no programa do presidente Obama (infraestrutura, etc) – hoje, a
prioridade é dada claramente ao neoliberalismo a fim de salvar tanto
quanto possível do capital fictício sobre-acumulado. Contudo, as
actuais políticas anti-crise não são keynesianas e os seus
iniciadores não se libertaram dos dogmas neoliberais. Na verdade, o Fed
e os outros bancos centrais do Norte continuam a criar moeda primária
numa escala maciça. Mas esta política monetária
aparentemente "keynesiana" caiu de facto na "armadilha da
liquidez" ("
liquidity trap
"), em que a estratégia de rebaixamento da taxa de juro real
demonstrou-se incapaz de aumentar a eficácia marginal do capital e
transferir capital-dinheiro da esfera financeira para a esfera produtiva.
As crises constituem momentos nos quais fracções de capital,
geralmente as menos produtivas e/ou inovadoras, são absorvidas e
incorporadas numa estrutura de propriedade capitalista mais concentrada.
Até agora, cada reorganização do capital na
história permitiu ao sistema construir instituições e
instrumentos mais eficazes para amenizar os piores efeitos devastadores destas
crises, mas de modo nenhum para resolver as contradições
profundas do sistema capitalista.
Conclusão
A probabilidade da escalada da crise actual é extremamente alta hoje
– não só na Europa com as dificuldades da zona euro e as
preocupações causadas pelo endividamento público, ou no
Japão, preso numa conjunção de problemas
dramáticos, mas também e acima de tudo nos próprios
Estados Unidos. Há uma alta probabilidade de que a presente crise venha
a tornar-se mais aguda, como uma crise sistémica do capital, uma vez que
todas as condições estão aí para que isso
aconteça. O capitalismo está em perigo, incluindo o
próprio centro do sistema. Obviamente, outras crises capitalistas
aconteceram no passado e o sistema sempre saiu delas mais forte e mais
concentrado do que antes. É uma ilusão acreditar que o
capitalismo está em vias de entrar em colapso devido aos efeitos da
crise actual.
Entretanto, se o problema estrutural para a sobrevivência do capitalismo
é na verdade o das pressões declinantes sobre a taxa de lucro, e
se a financiarização não é uma
solução sustentável, a única coisa que este sistema
oferecerá, até a sua agonia, será uma pressão
constante para aumentar a exploração da força de trabalho,
porque o capital fictício pretende ser remunerado e ele consegue isto
pela transferência do excedente
(surplus)
do capital produtivo. A situação presente não se parece
ao
"começo do fim da crise"
como dizem alguns conselheiros do presidente Obama. Não é uma
crise de crédito habitual, nem tão pouco uma crise
temporária de liquidez, através da qual o sistema se
reorganizará e se reforçará para então
começar a funcionar "normalmente", com uma nova
expansão das forças produtivas numa estrutura de
relações sociais modernizadas. Parece ser muito mais grave; o que
significa dizer, o princípio de um de longo processo de colapso da
actual etapa ou fase do capitalismo, a qual é agora
oligopolística e financiarizada. E este processo de entrada em colapso
está a abrir vastas perspectivas de transições. Portanto,
isto tornará necessário reconsiderar possibilidade de
alternativas e transformações pós-capitalistas.
Referências
- Carcanholo, R. and P. Nakatani (1999), "O Capital Especulativo parasitário", Revista Ensaios , vol. 20, n° 1, pp. 284-304.
- Cicchini, J. and R. Herrera (2008), "Sociétés militaires privées : la guerre par procuration ? Le cas de la guerre d'Irak", Recherches internationales , n° 82, pp. 9-26.
- Foster, J.B. and F. Magdoff (2009), The Great Financial Crisis , Monthly Review Press, New York.
- Herrera, R. (2011a), "A Critique of Mainstream Growth Theory: Ways out of the Neoclassical Science(-Fiction) and Towards Marxism", Research in Political Economy , vol. 27, n° 1, pp. 3-64.
- –(2011b), "Tendances de l'économie états-unienne sous la mandature de Barack H. Obama", Recherches internationales , n° 91, July-September, pp. 151-169, Paris.
- –(2010a), Dépenses publiques et croissance économique , L'Harmattan, Paris.
- –(2010b), Un autre capitalisme n'est pas possible , Syllepse, Paris.
- –(2007), "War and Crisis", Political Affairs , vol. 86, n° 4, pp. 34-38.
- –(2005), "When the Names of the Emperors were Morgan and Rockefeller", International Journal of Political Economy , vol. 34, n° 4, pp. 25-49, Winter.
- Herrera, R. and P. Nakatani (2008), "La Crise financière : racines, raisons, perspectives", La Pensée , n° 353, pp. 109-113.
- Krugman, P. (2009), The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 , W.W.Norton & Co., New York.
- Mampaey, L. and C. Serfati (2004), "Les Groupes de l'armement et les marchés financiers", in F. Chesnais (ed.), La Finance mondialisée , La Découverte, Paris.
- Nakatani, P. and R. Herrera (2007), "What Rich Countries Owe Poor Ones", Monthly Review , vol. 59, n° 2, pp. 31-36.
1- Para uma discussão destes argumentos, do ponto de vista teórico e empírico, ler: Herrera (2010a, b).
2- Exemplos: -33,84% registados para o Dow Jones Indus, -39,76% para S & P 500 e -40,54% para o NASDAQ entre 1 de Janeiro de 2008 e 1 de Janeiro de 2009.
3- Ver os relatórios sobre este assunto redigidos pelo Center Europe – Third World (CETIM): http://www.cetim.ch .
4- Ver, por exemplo, as estimativas (3,0 milhões de milhões de dólares) propostas pelo Prémio Nobel Joseph Stiglitz.
5- Ver o sítio web IVAW: http://ivaw.org/ . E também o apelo à paz: http://appealforredress.org./index.php .
6- Ler, por exemplo, os comentários de Rockwell e Rozeff, do von Mises Institute.
[*] Investigador do CNRS. Documento de trabalho do Centre d'Economie de la Sorbonne. O original (em inglês) pode ser descarregado aqui (PDF, 525 kB). Tradução de JF.
Nenhum comentário:
Postar um comentário